Poderia ter utilizado alguma referência literária (e não faltam alusões nessa direção). Por exemplo, em um texto de 1952 (A Linguagem Analítica de John Wilkins), Jorge Luis Borges afirma que “…notoriamente não existe classificação do universo que não seja arbitrária e conjectural….” Poderia ter-se reportado a algum laureado economista. Por exemplo, Robert Lucas sustenta que o desemprego involuntário é uma invenção de Keynes e corresponderia aos keynesianos carregar esse fardo analítico, com todas suas supostas imprecisões teóricas e empíricas. Porém não. O Presidente Bolsonaro apelou à Teoria da Conspiração para manifestar a sua insatisfação com os dados divulgados pelo IBGE sobre o nível de desemprego. Nessa visão do mundo, não parece ser nem original nem insólito, uma vez que acompanha uma tendência cada vez mais ampla entre novas correntes políticas/ideológicas que têm ascendido ao governo em diversos países. Esse referencial teórico (a Teoria da Conspiração) é explícito ao sustentar que a taxa de desemprego calculada pelo IBGE “parece feita para enganar a população”.
A avaliação dessa afirmação pode ser realizada desde múltiplas perspectivas e levanta os mais diversos interrogantes. Por exemplo, surge naturalmente a questão do porque não demitir o Presidente (ou a Presidenta) do IBGE uma vez que a atual titular foi por ele nomeada. O desligamento seria até justificado dado que o órgão que preside estaria divulgando estatísticas cujo objetivo seria “enganar a população”. Um segundo tipo de resposta seria contrapor essa acusação abstrata com certas informações metodológicas concretas. Por exemplo, que o IBGE acompanha recomendações internacionais na construção de suas estatísticas, réplica já dada oficialmente por essa instituição. Uma outra alternativa seria analisar os dados e advertir os erros primários nas críticas esboçadas.
Essas possíveis leituras, avaliações e réplicas já foram realizadas e amplamente divulgadas pela imprensa. Nesse sentido não vamos voltar sobre elas. Seria uma tarefa redundante. Contrariamente, a nossa perspectiva neste post é outra, mais radical, e consiste em sustentar que todas as avaliações e réplicas explicitadas carecem de transcendência, uma vez que estamos diante de uma questão epistemológica e não perante uma simples discussão metodológica sobre a construção de indicadores. Ou seja, uma afirmação com a qual estamos lidando (a construção de séries feitas pelo instituto oficial de produção de estatísticas estaria disponibilizando parâmetros cujo objetivo seria “enganar a população”) não pode ser refutada no marco da perspectiva epistemológica (“os óculos que nos permitem ordenar o mundo”) que corriqueiramente se denomina ciência. Aliás, como outras formas de abordar o mundo (magia, religião, experiência, astrologia, superstição, etc..), o que caracteriza uma afirmação como essa é a quase impossibilidade de sua refutação. Ou, em todo caso, a impossibilidade de refutação aos olhos daqueles que a sustentam.
Olhar ou interpretar o mundo através da Teoria da Conspiração tem arraigadas raízes na história do pensamento (ver, por exemplo, McConnachie, Tudge (2013)) e, basicamente, tenta caracterizar um fenômeno como sendo o produto do conjuro de uma força superior, oculta, com vastos e camuflados objetivos, com ampla capacidade de atuação, etc.. Os ideólogos e executores da conspiração podem ser os mais diversos, variando segundo os períodos históricos e a ideologia do proponente, factível de ir desde os judeus até as elites financeiras, o marxismo cultural, os mações, o tal establishment em geral e dentro destes os mais diversos subconjuntos (o establishment financeiro, político, a Comissão Européia, etc..) sendo até possível chegar às identificações mais exóticas (os extraterrestres).
As Teorias Conspirativas foram utilizadas para analisar e avaliar profusos episódios, desde os mais triviais até eventos cruciais na história da humanidade. Entre os mais triviais podemos mencionar a suposta morte de Paul McCartney e a foto do disco Abbey Road. Nela Paul estaria cruzando a rua de olhos fechados, levando um cigarro na mão esquerda (ele é canhoto), descalço (como seriam enterrados os mortos na Inglaterra) e por aí vai. A foto retrataria o enterro de Paul. Em realidade em cada disco dos Beatles se imaginavam diversas “evidências” da morte de Paul (a capa de Sgt. Pepper, por exemplo, também seria seu enterro). Entre as “interpretações” de eventos mais dramáticos (ou que geraram eventos mais dramáticos) podemos mencionar desde os presumidos “Protocolos dos Sábios de Sião” e a suposta “conspiração” judia até algumas mais recentes, como fantasiar que os atentados do 11 de setembro nos EUA teriam sido um complô dos próprios Estados Unidos para justificar intervenções militares visando dominar reservas de petróleo no Oriente Médio. Aspectos da história recente do Brasil não fogem a esse tipo de análise. Por exemplo, a Lava Jato seria um complô urdido nos EUA para acabar com a Petrobrás, a indústria nacional e o savoir-faire da engenheira do país (ver aqui).
O diálogo ou a interação entre o paradigma do que corriqueiramente se denomina de ciência e outras formas de abordar o mundo (seja no tocante a aspectos físicos, como a origem da vida na terra, ou dimensões políticas/sociais/econômicas, etc.) é limitado quando não impossível. Tomemos o caso da verificação empírica das correlações e as relações de causalidade. Seja que optemos pela perspectiva indutiva ou dedutiva, na visão cognitiva do que denominamos de ciência sempre existem modelos teóricos e correspondentes testes empíricos (ou a possibilidade de serem realizados). Essa relação entre teoria e validação empírica ou entre teoria e observação pode merecer as mais diversas abordagens e tensões (possibilidade de refutação versus verificação), mas na ciência esse nexo está sempre latente. Vejamos a questão da falseabilidade em Popper. O criacionismo não pode ser considerado uma teoria científica uma vez que não é falseável. A teoria evolutiva sim. A psicologia, no sentido Popperiano, não pode ser considerada uma ciência. Restringindo-nos ao marco conceitual de Popper, uma afirmação científica tem validade transitória, pode ser refutada no tempo, sempre paira a dúvida sobre ela e, pela sua mesma natureza, é provisória. O criacionismo é definitivo, absoluto, não paira dúvida sobre ele, não existe espaço para o ceticismo. Ou seja, não pode ser assumido como científico.
As Teorias da Conspiração (em paralelo a outras que estão fora do escopo deste post, como a magia, a astrologia, a superstição, etc.) sempre situam a origem de um fenômeno em uma força oculta, porém supostamente poderosa, bem articulada e com fins quase sempre bem específicos (“os judeus pretenderiam conquistar o mundo”) ou extremamente amplos e nebulosos (um determinado fenômeno seria um complot da imprensa, ainda que não se saiba muito bem o objetivo dessa intriga). Observemos que aqui estamos diante de uma interessante caracterização que Popper, no seu A Sociedade Aberta e seus Inimigos, realiza da Teoria da Conspiração: não existe espaço para o azar, sempre um resultado será o corolário do acionar de um grupo interessado, mesmo que o grupo ou o objetivo não seja explicitado. O IBGE estaria manipulando os indicadores para “enganar a população”: qual seria o objetivo último ? Qual o grupo interessado ? Não sabemos nem o indivíduo que fez essa afirmação (neste caso o Presidente do Brasil) explicitou. Por outra parte, a Teoria da Conspiração combinaria, ao mesmo tempo, uma singularidade simplista (simplória) e complexa. Assim, JFK teria sido assassinado pela máfia (em algumas versões associada à própria CIA) uma vez que a mesma se sentiu traída depois de ter financiado sua campanha e o presidente nomear seu irmão Robert como procurador geral para iniciar uma política persecutória contra ela. Temos uma explicação simples (assassinato pela máfia) em um contexto supostamente extremamente complexo (planejamento, grupos de pessoas interagindo, informação/secreto, etc.). Não existe espaço para o aleatório. Não existe a possibilidade de um desequilibrado, atuando sozinho e por motivos fúteis, ter cometido esse assassinato. Sempre existirá um grupo oculto, secreto, fechado, com estratégias sofisticadas e um “raciocínio” que tem como corolário a explicação simplória (mas muitas vezes de um inusitado apelo popular) de um fenômeno. Por exemplo, a Lava Jato teria sido urdida no Departamento de Justiça dos EUA para acabar com a Petrobrás.
Mas voltando a nossa avaliação em termos de ciências, observemos que a ausência de confirmação é assumida como uma confirmação: se não existem provas é um atestado da sofisticação do grupo oculto. Assim, se na ciência a não existência de provas pode levar a rejeitar uma hipótese (no caso da verificação ser assumida como prova de validade, que não é o caso de Popper), na Teoria da Conspiração a ausência de provas é assumida como confirmação: um aspecto negativo é assumido como sendo a prova positiva. Para Hitler, a “prova” que os Protocolos dos Sábios de Sião são verdadeiros é sua rejeição pelos judeus (Cohn (1996)).
Estas considerações sobre a impossibilidade de diálogo entre o paradigma científico mainstream e a Teoria da Conspiração poderia ser associado a uma inquietude exclusivamente acadêmica, que diria mais respeito a questões epistemológicas que a desdobramentos concretos sobre um suposto objetivo do IBGE de “enganar à população brasileira”. Em realidade, os elos (entre considerações teóricas e corolários práticos) são mais próximos e perpassam inquietudes exclusivamente metodológicas ou acadêmicas. Como bem nos lembra Popper na referência que já citamos (A Sociedade Aberta e seus Inimigos), os projetos totalitários (não importa seu sinal ideológico) estão umbilicalmente vinculados a perspectivas conspiratórias do mundo. Por outra parte, como bem indicam as Nações Unidas, “As estatísticas oficiais constituem um elemento indispensável no sistema de informação de uma sociedade democrática…..) (ver aqui). Na medida em que balizam sistemas de formulação, controle e avaliação de políticas, a credibilidade e confiança da oferta de séries oficiais se deve nutrir de instituições produtoras com certas características: independência do poder, capacidade técnica, acompanhamento das sugestões metodológicas de organizações multilaterais, etc.. (sobre este ponto ver Feijó (2002), Valente e Feijó (2006)).[1] Nesse sentido, um sistema totalitário ou governos de cunho populista não podem, em nenhuma circunstância, conviver com uma instituição oficial de produção de estatísticas independente e tecnicamente competente. Existem funestas experiências bem próximas (no espaço e no tempo). Por exemplo, a aventura kirchnerista na Argentina redundou em um desmonte total do INDEC (o IBGE desse país) e desembocou em uma oferta de indicadores de inflação, emprego, pobreza, etc.. sem nenhuma credibilidade. Superada a miragem, reconstruir e encadear séries credíveis, reerguer reputações, recompor recursos humanos qualificados, etc. podem ser tarefas de anos.
Nesse contexto, questionar a confiabilidade da instituição oficial produtora de estatísticas apelando a Teorias Conspirativas representa um desafio difícil de ser contornado ou administrado. Justamente, a dificuldade se alimenta da impossibilidade de desafiar as suspeitas mediante argumentos que seriam normais no paradigma cognitivo no que se denomina ciência. Ao não compartilhar aspectos metodológicos básicos, refutar interpretações, diagnósticos ou afirmações oriundas de teorias conspirativas mediante discussões técnicas ou evidencias será uma tarefa inglória. Acentuando ainda mais essa disfunção, apelar a interpretações nutridas em alguma teoria conspiratória abre a caixa de pandora para o surgimento dos mais diversos diagnósticos e o debate começa a ser regulado pelas mais extravagantes narrativas, todas compartilhando os aspectos básicos do que denominamos de paradigma da Teoria da Conspiração. Dessa forma, se o Presidente da República atribui ao IBGE a intenção de produzir estatísticas para “enganar a população”, debilitando-o institucionalmente, valida intelectualmente uma ficção que identifica as restrições orçamentárias do próximo Censo e as sugestões para reduzir o número de quesitos no questionário como uma estratégia do Ministro Paulo Guedes para forjar as estatísticas e iludir a população: “A intenção de Guedes é reduzir o número de indicadores para poder manipular mais a realidade” (ver aqui).
Nessa proliferação de relatos nos quais as teorias conspirativas pautam os pseudo-argumentos e o diálogo com o método científico tradicional se torna inócuo, uma saída possível (seja para preservar tecnicamente as séries seja para preservar a mesma democracia) consistiria avançar na institucionalidade do IBGE como órgão independente e com reputação. Por exemplo, assumir para sua formatação institucional aspectos muito discutidos no caso dos Bancos Centrais: Presidentes e Diretores com mandatos fixos não coincidentes com o ciclo eleitoral e aprovados pelo Senado, orçamento próprio e estável, integração mais acentuada com organismos internacionais, etc.. Nesse sentido, a pretendida acessão do Brasil à OCDE e os requisitos que sua admissão supõe pode ser um bom caminho a ser transitado.
-
/ Feijó, C.A. “Estatísticas oficiais: credibilidade, reputação e coordenação” Economia Aplicada. v.6.n.4. p.803-817. out./dez. 2002.
, ↑
Autor:

Carlos Alberto Ramos é Professor do Departamento de Economia, UnB. Graduação Universidad de Buenos Aires, Mestrado na Universidade de Brasília, Doutorado na Université Paris-Nord.


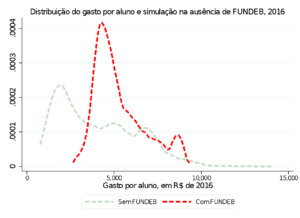



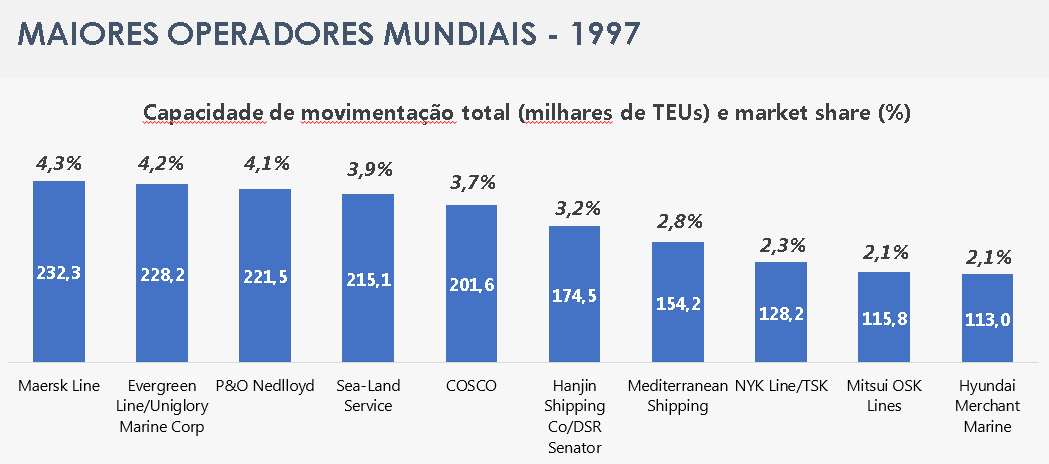
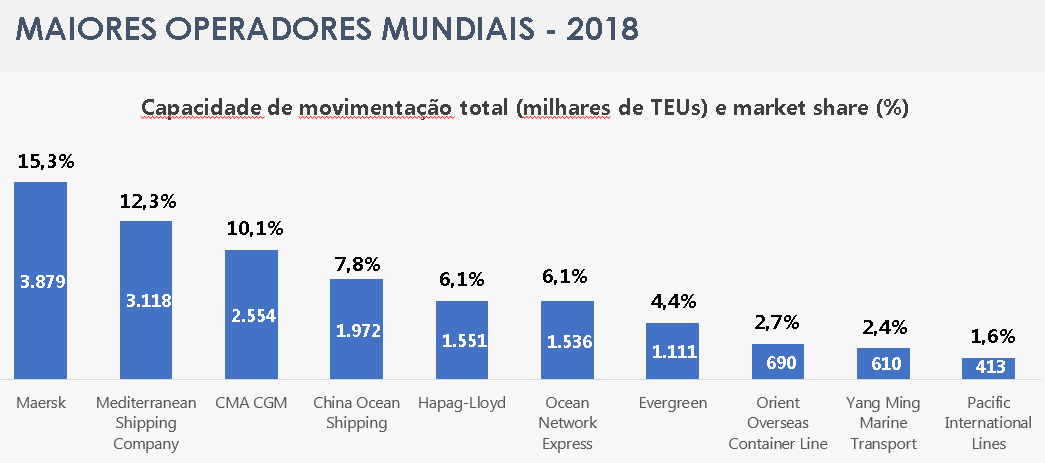


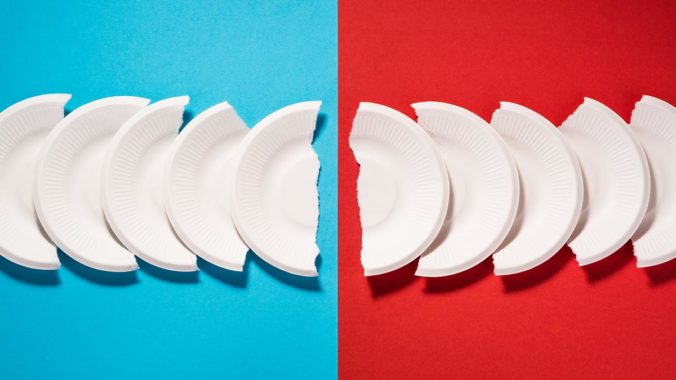



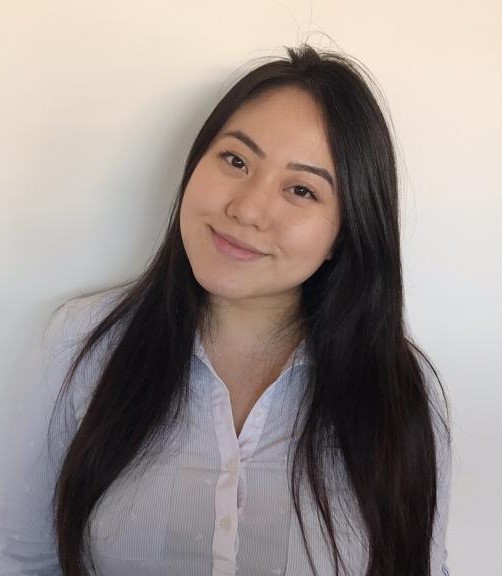


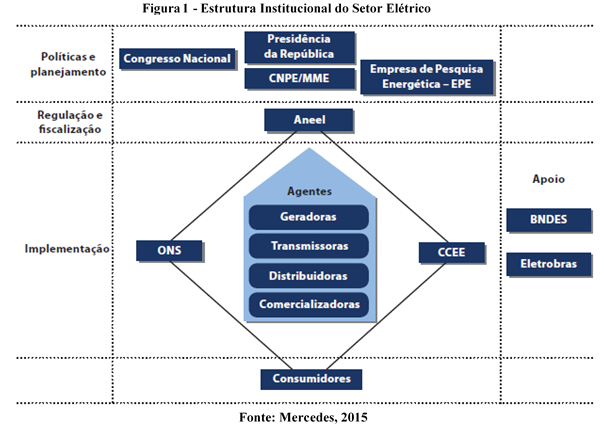 Fonte:
Fonte: 


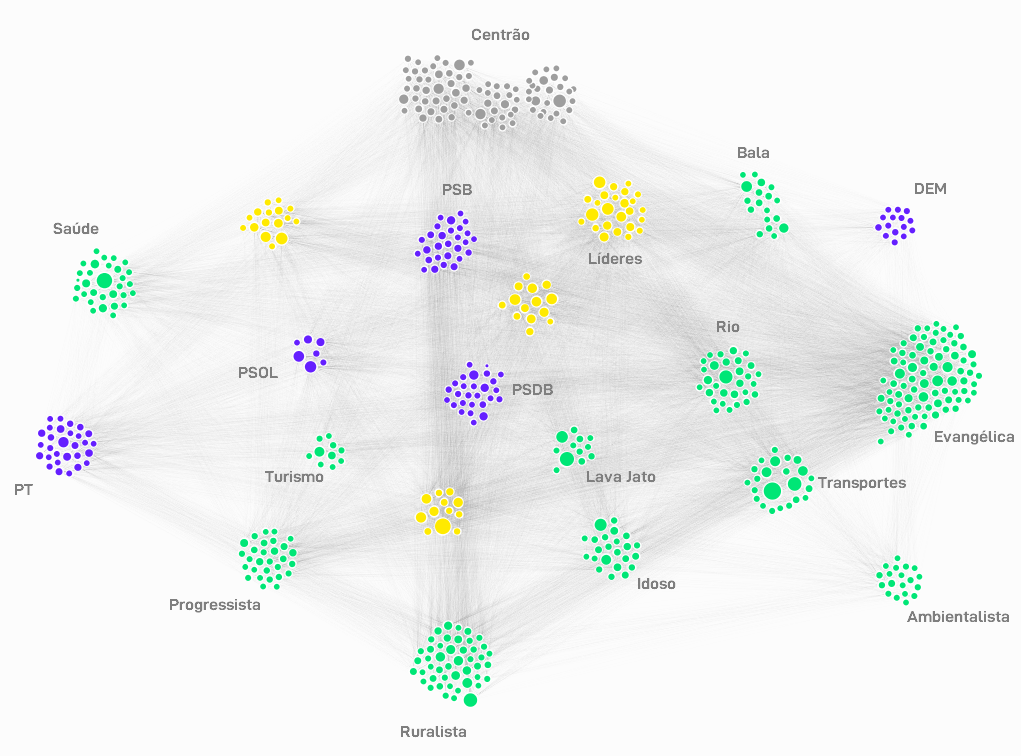
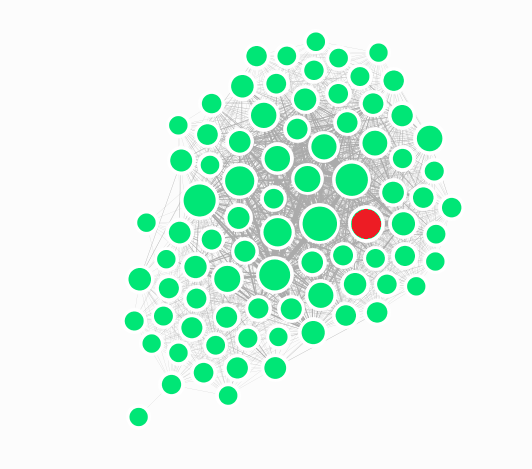





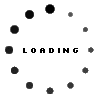




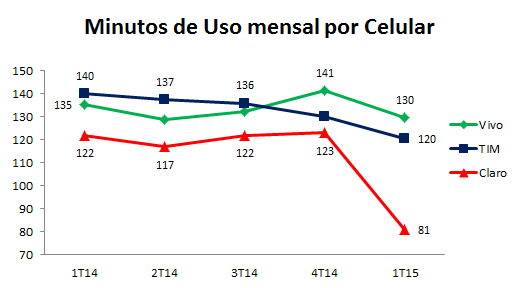

Comentários