O tema de e-commerce começou a ser discutido na OMC em
1998, a partir do estabelecimento de um Plano de Trabalho que consideraria o
chamado “aspectos relacionados ao comércio no comércio eletrônico” (trade related aspects of electronic trade)
ali definido como a produção, distribuição, marketing, venda ou entrega de bens
e serviços por meios eletrônicos. A definição do escopo do trabalho parece uma
redundância, mas foi a forma encontrada para se focar no tema de comércio em si,
e não nos demais aspectos relacionados ao componente “eletrônico” do termo – e
incorrer no risco de entrar no escopo de atuação de outras organizações, como a
União Internacional de Telecomunicações (UIT). Um histórico sobre o tratamento
do tema na OMC pode ser encontrado em Hees
(2016) e Matos (2018).
Com exceção da moratória sobre transmissão eletrônica, e sua renovação a cada dois anos nas Reuniões Ministeriais da OMC, pouco progresso decorreu do Plano de Trabalho de 1998. Após 2016, todavia, houve intensificação nas discussões, com a circulação de propostas de trabalho, sugestão de temas que futuro acordo deveria contemplar. Essas discussões culminaram na decisão, tomada em janeiro de 2019, de se iniciar as negociações com o objetivo de desenhar regras globais em comercio eletrônico. Representantes de 76 membros da OMC – União Europeia e 48 outros países, incluindo a China, assinaram assim a Declaração Conjunta em Comércio Eletrônico, o documento plurilateral que lançou as negociações e que atesta o objetivo de chegar, de modo pragmático, transparente e aberto ao posicionamento de qualquer país, a um conjunto ambicioso de disciplinas em comércio eletrônico, que se coadune com as disciplinas já existentes na OMC e que leve em consideração a perspectiva do desenvolvimento, tal como os últimos acordos firmados no âmbito da Organização. Embora a iniciativa seja plurilateral, existe um claro objetivo de torná-la multilateral.
O pano de fundo das discussões
O lançamento das negociações plurilaterais insere-se em
um contexto maior, de tentativa de manter a OMC como o lócus das discussões
sobre novas regras internacionais. Por mais que a iniciativa sobre comércio
eletrônico na organização seja bem-vinda, e que regras sobre os aspectos
comerciais da economia digital sejam mais que desejáveis, há aqui também uma
“luta” da OMC em demonstrar seu valor, papel e preponderância nos temas novos e
urgentes do comércio. Num momento de tanto questionamento quanto ao papel da
instituição – vide as discussões sobre reforma da OMC, do sistema de solução de
controvérsias, entre tantas outras – um acordo que demonstre que os países
ainda acreditam que este fórum tem sua validade na consolidação de regras
multilaterais poderia contribuir para repaginar seu papel e demonstrar que a
estrutura construída ainda consegue cumprir sua função.
Apesar de os 76 signatários representarem 90% do
comércio global, esse grupo continua sendo minoria no total de membros da OMC.
Para países que pressionam a instituição por avanço em questões pendentes, como
subsídios à agricultura por países desenvolvidos, entrar nesse acordo seria
abrir mão de toda uma agenda que ainda está pendente de resolução. O que se
questiona, todavia, é se de fato ainda há como enfrentar essa “agenda perdida”
do comércio, encabeçada por países como a Índia. A opinião que prevalece é a negativa.
Como todo acordo plurilateral firmado no âmbito da
OMC, o grande benefício é “manter a roda dos acordos plurilaterais rodando”, em
particular sobre temas novos, como foi o caso do Acordo sobre Tecnologia da
Informação (ITA, da sigla em inglês), firmado em 1996 e expandido em 2015. A
desvantagem da abordagem, por outro lado, é a perda de legitimidade desse tipo
de acordo, em razão da baixa representatividade em termos de membros, em
particular, dos menos desenvolvidos. Além disso, uma vez que o acordo é
assinado, pode haver um comportamento de carona dos não signatários, que
usufruirão dos benefícios desse tipo de acordo (como importação de equipamento
de TI a alíquotas menores de importo de importação, no caso do ITA), sem ter
que se comprometer com mudanças tarifárias ou regulatórias. Ou seja, é possível
participar dos ganhos do acordo sem incorrer nos seus (supostos) custos.
O Brasil nas negociações em comércio eletrônico na OMC
Em conjunto, os documentos brasileiros[1]
apresentados na OMC no âmbito das negociações em e-commerce demonstram os
principais pontos que devem estar presentes em um futuro acordo, e destacam-se
por uma abordagem competente e firme, numa tentativa bem estruturada de liderar
o movimento de formação de posições. Trazem consensos para a discussão sem
deixar de apresentar posições e de trazer à tona temas espinhosos, mas caros
aos países em desenvolvimento, como concorrência, direito do autor e
tributação.
O Brasil demonstra certo alinhamento à posição de
países mais avançados ao utilizar o termo “comércio digital”, algo defendido
amplamente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, os quais buscam, dessa forma, um
acordo que contemplem bens, serviços ou qualquer outro produto que circule por
meios digitais. Utilizar o termo “comercio digital” pode ser uma estratégia
negociadora de trazer o peso de países relevantes junto da posição brasileira.
Todavia, na hora de definir o conceito de comércio digital, o faz de forma
ampla e avança pouco em relação ao conceito de comércio eletrônico utilizado
pela OMC desde 1998. Ou seja, traz para si países defensores desta guinada nas
tratativas, como Estados Unidos e Canadá, mas não aponta uma definição que
possa de fato deixar países em desenvolvimento mais confortáveis em tratar do
assunto de comércio eletrônico em um acordo.
O documento produzido pelo Brasil é firme em endereçar
pontos delicados. Por exemplo, deixa claro e explícito o direito a regular (right to regulate), isto é,a abertura para a introdução de novos
regulamentos, e um espaço para consecução de de políticas públicas. O right to regulate já foi muito criticado
como uma carta branca para utilização de políticas que sejam contrárias ao que
se busca estabelecer em um acordo de comércio.
O Brasil também avança ao pautar concretamente o tema
da tributação, e coloca que os países devem ter o direito de recolher tributos
de plataformas ou demais fornecedores sobre a renda ou lucro gerado em seu
território. Ao mesmo tempo, deixa em aberto a decisão pela moratória permanente
em transmissão eletrônica, que fica atrelada a resolução sobre como tributar
internamente o comércio digital. Essa posição diverge daquela adotada
atualmente pelo Brasil em acordos bilaterais, nos quais tende a ser mais aberto
a aceitar a moratória sobre transmissões eletrônicas. O Brasil tem assumido na
OMC uma posição ativa, tanto na articulação de consensos como na proposição de
temas sensíveis, que precisam ser enfrentados. As negociações bilaterais, como
esperado, possuem dinâmica distinta – onde se costuma preponderar as questões
tarifarias – tornando a posição em comércio eletrônico mais reativa e menos
propositiva.
Destacam-se também a abordagem brasileira sobre o tema
de copyright e a menção ao direito
que o autor tem de obter informação sobre seu trabalho. Essa informação é
amplamente detida pelas plataformas digitais, gerando uma assimetria de
informação e um baixo poder dos autores para negociar melhores remunerações.
Essa menção ressoa movimentos anteriores do Brasil, tanto no Conselho de TRIPS[2] da
OMC em 2016 como na própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(OMPI), sobre os desafios do copyright
no ambiente digital. O que se busca, mais do que a criação de regras, parece
ser a abertura de um espaço mais informal para discussão dessas questões.
O Brasil também busca enfrentar o tema da concorrência
no ambiente digital, já debatido pelo blog, colocando sobre os países a responsabilidade de evitar o abuso do
poder de mercado. Apesar do amplo benefício da economia de escala advinda da
participação em uma plataforma, e dos ganhos ao consumidor (seja ele indivíduo,
empresa ou governo) pelo acesso a serviços baratos ou gratuitos, há muitos
estudos evidenciando ações deletérias das plataformas sobre a concorrência
dentro e fora da plataforma. Restrição ao acesso da plataformas por
fornecedores de outros países[3],
falta de transparência quanto a publicidade e escolha de quais produtos serão
apresentados primeiramente são algumas dessas ações, e decorre da clara
vantagem que as plataformas possuem (advindas do efeito-rede e efeito-plataforma). Levanta-se, ademais, a dificuldade de entrada e de permanência de empresas e
startups em nichos digitais, uma vez que plataformas grandes
se movem na direção desses novos mercados e nele adentram com grande vantagem
ao levarem rapidamente seus usuários para esses novos serviços. Aponta-se
também os efeitos negativos das grandes plataformas sobre a inovação. Esses efeitos negativos sobre a capacidade das firmas de
inovar poderia, ao menos em teoria, ser superiores os
benefícios advindos dos baixos preços a consumidores, ensejando intervenção e
regulação governamental.
Como os demais países estão se posicionando
A posição da União Europeia nas negociações em
comércio eletrônico reflete bastante aquela já adotada em seus acordos
bilaterais recentemente assinados ou em negociação. Em resumo, o país mostra
que seu principal interesse é garantir que os princípios não discriminatórios
que balizam os demais acordos no âmbito da OMC sejam aplicados também ao
comércio digital. Como já possui um aquis
regulatório bastante consolidado em diversas questões, como assinaturas e
contratos eletrônicos, não discriminação entre bens e serviços transacionados fisicamente
ou online, sua posição em negociações de e-commerce busca refletir esse status
regulatório no ambiente multilateral bem como avançar em acesso a mercados. Países
que possuem regulação já madura conseguem assim uma estratégia inside-out para regulações em comércio
eletrônico. Já países no lado oposto – com poucos marcos regulatórios e políticas
voltadas ao e-commerce – terão uma repercussão outside-in, ao menos que consigam firmar posição em questões macro que
possibilitem a adoção de regulações e politicas no futuro.
Em relação ao fluxo de dados, a abordagem reflete novamente
a maturidade da regulação doméstica em comércio-eletrônico. Aqui, fala-se que
os países devem garantir o fluxo de dados para facilitar o comércio na era digital, uma abordagem bem mais
conservadora que a americana, que advoga pela liberdade total nos fluxos de
dados (salvaguardando os casos de segurança e demais exceções). Como já
esperado, a União Europeia advoga que a proteção de dados pessoais e a
privacidade são direitos fundamentais, e que os países podem adotar todas as
salvaguardas que se fizerem necessárias para proteção desse direito, incluindo
regras sobre a transferência de dados pessoais. Isso significa, em termos
práticos, que a União Europeia não quer de forma alguma trazer esse tema para
um acordo comercial, abordagem essa já consolidada nas negociais bilaterais do
bloco. Nas palavras da Comissão Europeia: “a privacidade
não é uma commodity, para ser negociada (em acordos)”, no âmbito das
negociações com o Japão.
A União Europeia já mostrou que deseja utilizar as
negociações em comércio eletrônico para revisar as disciplinas em serviços de
telecomunicações, algo questionável tendo em vista que isso pode ensejar
demandas similares em outras disciplinas de serviços, fazendo com que a
negociação perca o foco – e mine a adesão de novos membros. Além disso, advoga
que todos os países signatários de um futuro acordo em e-commerce também
assinem o Acordo para Tecnologia da Informação (ITA), que reduz alíquotas de
importação para centenas de produtos de informática, eletrônicos, e de
telecomunicação. Ainda que se tratem de acordos de certa forma relacionados, já
que o ITA facilita o acesso a mercados de produtos eletrônicos e de
infraestrutura para conectividade, essa estratégia pode ser vista como
extremamente impositiva.
A China decidiu participar do lançamento das
negociações em Davos, surpreendendo muitos, tendo em vista a hesitação do país
nas rodadas de negociação informal que aconteceram na OMC nos anos anteriores. O
documento produzido pelo país em abril desse ano para subsidiar as discussões
revela de forma contundente os objetivos do país nessa negociação.
Mais importante, o documento enfatizou que, mesmo
sabendo que se trata de uma negociação ambiciosa, ela deve considerar de forma
plena o direito a regular dos membros e objetivos legítimos de políticas
públicas, tais como soberania da internet, segurança dos dados e proteção à
privacidade. De acordo com o país, os membros devem respeitar as políticas
promovidas pelos países para o desenvolvimento do comércio eletrônico, e o
direito legítimo de adotar medidas regulatórias para atingir seus objetivos de
política pública. O recado é bem claro: não haverá retrocesso quanto às
políticas e regulamentos que o país colocou em vigor para desenvolvimento de
sua rede de comércio eletrônico doméstica e global.
O documento também segue na direção oposta à posição
americana (que discutiremos em maior profundidade em um próximo post) ao buscar
que as discussões se restrinjam ao comércio internacional de bens habilitados
pela internet, e em serviços complementares a essas transações, como os de
pagamento e logística, enquanto o documento americano está focado em regulações
que permitam o livre fluxo de dados e a liberdade em transações envolvendo o
comércio de serviços. Não por outro
motivo, as principais propostas chinesas referem-se à facilitação do comércio
eletrônico de bens, comércio sem papel, e assinaturas eletrônicas e ao papel da
infraestrutura para a promoção do comércio de bens. O documento vai além, e
advoga que discussões sobre regras em temas regulatórios mais complexos devem
ficar de fora das negociações. Para a China, qualquer disciplina sobre fluxo de
dados tem como pré-condição a discussão sobre segurança nacional. Ou seja, por
parte da China, poucas concessões serão feitas dentro daquela que é a área de
maior interesse dos Estados Unidos na negociação: a liberdade do fluxo de
dados.
A China traz para as negociações o conceito de
“soberania cibernética”, o qual foca no controle da informação e do conteúdo
provido pela internet (Schia
e Gjesvik, 2017), diferentemente do conceito mais conhecido de segurança
cibernética, que está ligado a proteção da infraestrutura e dos processos na
internet. Como colocado por Lindsay, Cheung & Reveron (2015), o objetivo é retirar qualquer influência indesejada
do “espaço informacional” do país, e tentar trazer a governança da internet
para os estados. Trata-se mais de um objetivo político de controlar as
informações às quais os cidadãos tem acesso do que um interesse puramente
mercadológico.
É preciso também atentar para o movimento
anti-negociação existente na OMC, que dificultará sobremaneira a
multilateralização do acordo e a entrada de players
importantes no comércio eletrônico, como é o caso da Índia e da Rússia. A Índia é o país com oposição mais contundente a um acordo em e-commerce na OMC, pois defendem que o
acordo retirará a capacidade dos países de tributarem empresas de tecnologia
digital, e, em consequência, as
plataformas, uma importante fonte de receita, tendo em vista que as formas
tradicionais de tributação (sobre bens ou lucro das empresas) vem decrescendo
ao longo dos anos. A preocupação é mais forte especialmente em áreas como
manufatura aditiva e impressão digital, tema pouquíssimo debatidos nos fóruns
de comércio. Além disso, o país opõe-se
fortemente a provisões que impeçam que um país adote requerimentos de
localização de dados. A postura do país no âmbito multilateral está em
concordância com o que tem sido feito no âmbito interno: o país já criou
diversos regulamentos que impactam diretamente a atuação de plataformas estrangeiras
no país, e está atualmente elaborando sua política nacional para e-commerce, a
qual regulará o uso de dados gerados por plataformas dentro da Índia e incluirá
previsão que permita o país tributar transmissões eletrônicas.
Além da Índia, diversos outros países têm adotado
regulações domésticas que impactam comércio digital e que têm sido classificadas como protecionistas. É o caso de restrições a movimentação de dados
impostos por Rússia, Arábia Saudita, Vietnã, China, Quênia, Nigéria e Turquia.
Apesar de a maioria desses países terem esse tipo de legislação apenas para
alguns setores (como serviços de pagamentos e financeiros), países como Estados
Unidos alegam que esse tipo de restrição prejudica uma série de serviços
digitais ofertados por suas empresas. Algumas das nações citadas acima estão
participando das discussões dedicadas a e-commerce na OMC, e parte delas provavelmente
acabará retrocedendo em algumas das regulações adotadas domesticamente.
Todavia, já se espera grande embate para inclusão de cláusulas e exceções que
preservem o espaço para regulação de novas tecnologias.
Conclusões
Como se pode observar, o tema de comércio eletrônico
ganhou relevância significativa na OMC, um reflexo tardio, já que o tema tem
sido abordado em acordos bilaterais e regionais de comércio há pelo menos dez
anos. Todavia, não é negligenciável o esforço feito por diversos membros em
prol de um acordo multilateral, o que evidencia que a OMC segue com capacidade
de se renovar e ser lócus relevante para discussão de temas modernos.
Os primeiros documentos circulados depois da
assinatura da Declaração Conjunta em 2019 revelam posições que já eram conhecidas,
e refletem parte do status quo das
negociações bilaterais e regionais em e-commerce. Todavia, países como o Brasil
tem conseguido expressar de forma consistente suas posições e pautar as discussões
em relação a alguns temas.
É possível, em certa medida, prever quais os possíveis
resultados em alguns temas, que já estão com debate mais avançado e que figuram
em acordos comerciais há mais tempo. É o caso das disciplinas em assinaturas e
contratos eletrônicos, facilitação do comércio, regulação anti-spam e direito
do consumidor. Todavia, muitos temas
novos estão surgindo. Resta, portanto, acompanhar como as posições se aglutinarão
em torno dos temas mais difíceis da agenda, como fluxo de dados, localização de
servidores, compartilhamento de códigos-fonte, algoritmos e softwares, concorrência,
entre outros.
[1] A presente análise foi feita com base nos dois últimos documentos circulados a pedido da delegação brasileira. O documento mais recente, circulado em 30/04/2019, ainda não está disponível para consulta. Todos os documentos citados nesse post bem como os demais produzidos pelos países podem ser encontrados no site da OMC.
[2] TRIPS é a sigla para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.
[3]
No caso da Amazon, por exemplo, sabe-se que apenas prestadores com residência
nos Estados Unidos e Índia podem vender produtos na plataforma.




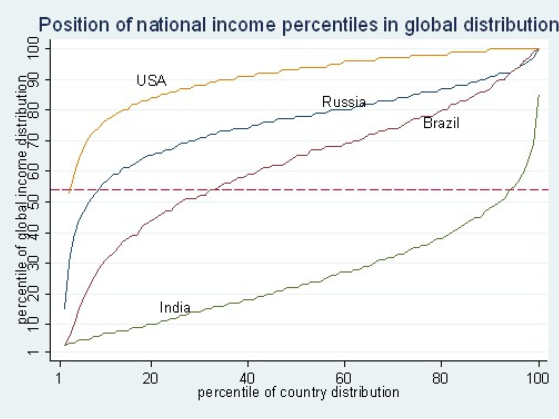
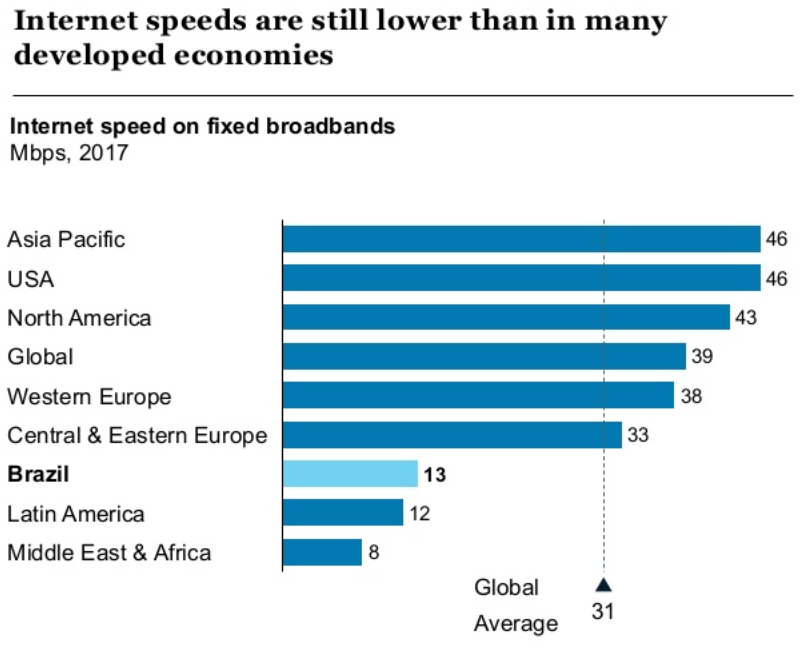









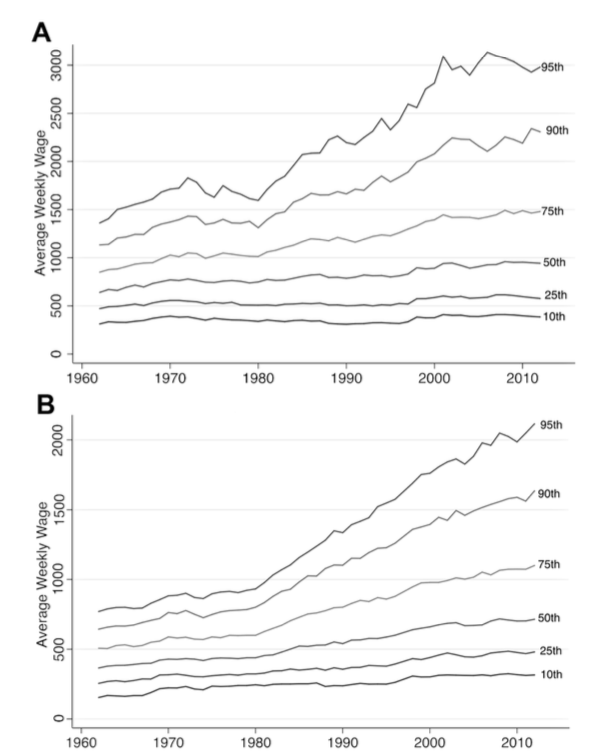



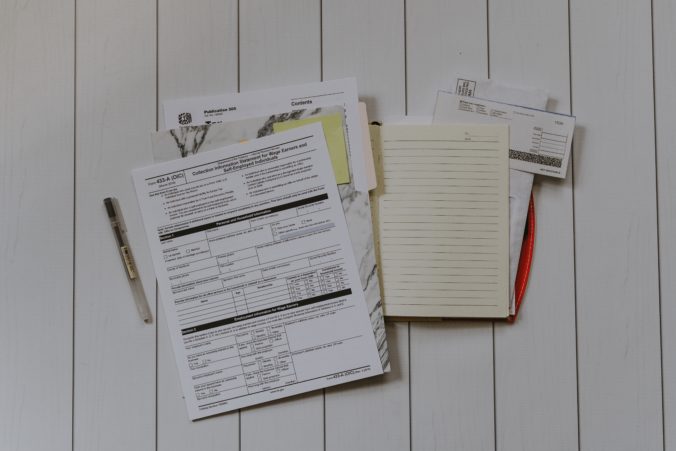
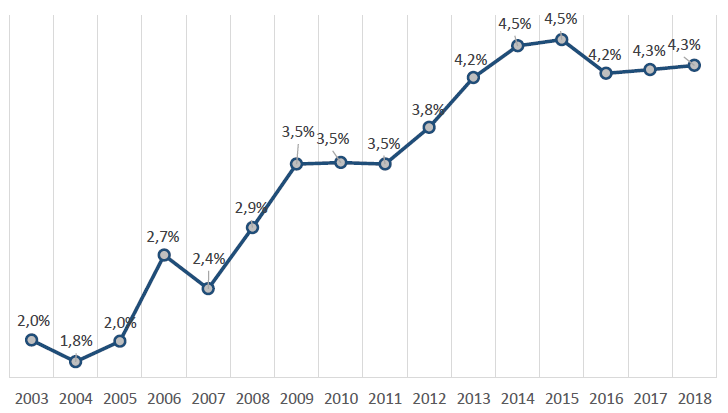
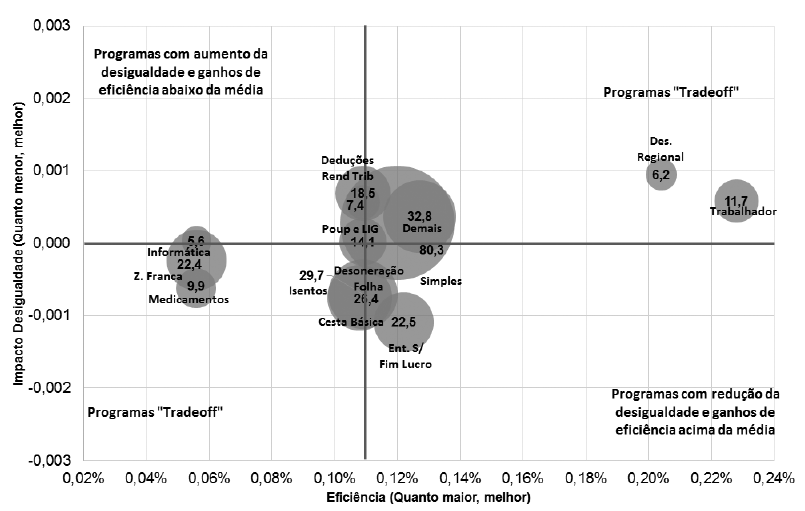
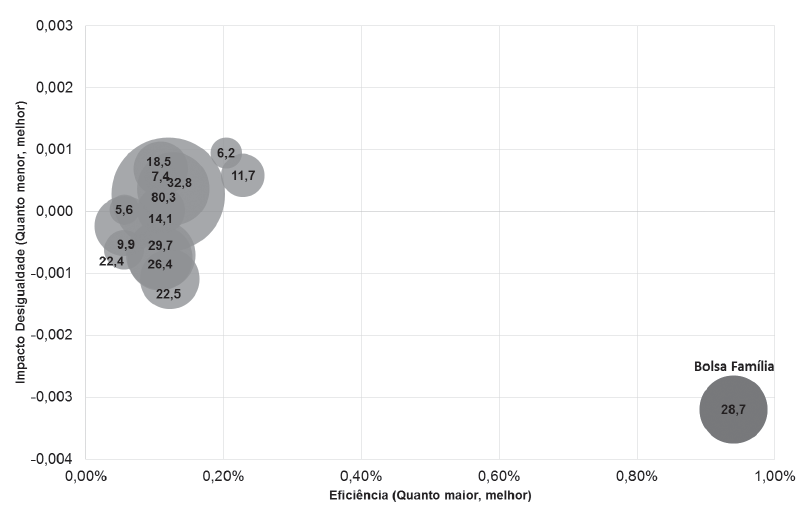





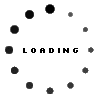




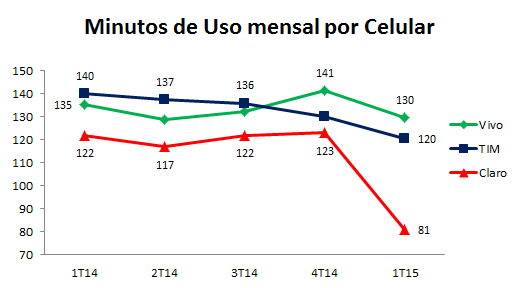

Comentários