[Ver nota do autor]
Em um post anterior, apresentamos um exemplo de como a cadeia de produção e consumo indústria globalizada vai se integrando à informalidade e acaba por construir a semiformalidade na economia brasileira. Todavia, esse processo também se desenvolve a partir de um caminho inverso: a semiformalidade também se conforma em uma trajetória que parte do mundo informal em direção ao formal.
Para exemplificar esse processo, observaremos aqui o que talvez seja o caso mais emblemático da imbricação entre setores formais e informais da economia nacional: as escolas de samba. Roberto DaMatta (2000) afirma que o carnaval é o espaço privilegiado capaz que equacionar as contradições entre a “casa” e a “rua”, os dois elementos que, ao se confrontarem, dariam origem ao “dilema brasileiro” e cuja articulação e equalização permitiria o que o autor chama de “atualização” desses supostos dois “brasis” tão diferentes entre si.
Nós, aqui, sugerimos que o carnaval – talvez até mesmo por conta dessa característica apontada pelo autor – é também o espaço privilegiado do equacionamento e atualização do formal com o informal, o que o transforma no processo paradigmático da expressão econômica desse “dilema brasileiro” e de como este se atualiza no contexto da produção e distribuição de riquezas por intermédio da conformação da semiformalidade.
Nascidas nas favelas do Rio de Janeiro[1], as escolas de samba floresceram, em seus primeiros anos, no contexto extralegal que caracteriza tais áreas, no qual predominam as atividades econômicas e moradias informais. Em um dado momento de sua trajetória, por razões cuja descrição foge ao escopo deste post, parte substancial de seu financiamento passou a ser feita pelos banqueiros do Jogo do Bicho. Este consiste em uma loteria privada e é há décadas uma atividade ilegal no país. Junto com o financiamento, o controle administrativo da maioria das escolas de samba passou para a mão desses chamados “bicheiros” ou “banqueiros do bicho”: indivíduos que controlam essa modalidade de jogo (DaMatta e Soáres, 1999). Além de ilegal de per si, o Jogo do Bicho possui também notórias ramificações em diversas atividades do crime organizado.
De início, perseguida pela polícia, essa modalidade de atividade carnavalesca foi, com o passar dos anos, sendo cada vez mais tolerada. A partir do momento em que adquiriu dimensão expressiva no carnaval da cidade, foi incorporada ao calendário de eventos oficiais do carnaval carioca. Desde então, o Estado passou não só a financiar parte dos seus desfiles, como também a estabelecer as regras que disciplinam o desfile e a competição que se realiza entre essas agremiações. O passo seguinte no processo evolutivo foi a aquisição, por parte da grande mídia – especialmente da televisão – dos direitos de transmissão do desfile de escolas de samba, transformando-o em um de seus mais importantes produtos, inclusive para exportação. Ao mesmo tempo, somou-se interesse semelhante e complementar por parte da indústria fonográfica, que explora um rentável mercado de comercialização dos sambas-enredo.
Na continuidade da evolução, os desfiles de escolas de samba se transformaram também no principal produto da indústria de turismo carioca, que chega mesmo a incluir o direito de participação nos desfiles em seus “pacotes”. Esse direito é adquirido por turistas de todo o mundo nas operadoras/agências a valores que chegam a ultrapassar os US$ 500 por pessoa. Dados seus interesses, todos esses setores passaram a influenciar também a própria dinâmica dos desfiles. Paralelamente, à medida que estes foram adquirindo notoriedade, outros setores formais também começaram a ter interesse, como estratégia de marketing, em se incorporar ao evento na condição de patrocinadores. Um dos que merece destaque é o setor de bebidas. Em especial, as grandes cervejarias passaram a disputar ferrenhamente o direito de patrocinar a realização dos desfiles, bem como as transmissões de TV.
O passo final da absorção dos desfiles pelo mundo formal foi a substituição de uma parte do financiamento direto das escolas de samba, até então subsidiado pelos “bicheiros” e pelo governo municipal da cidade, por patrocínios (muitas vezes não explícitos) de diversas das escolas de samba por parte de empresas dos mais diferentes ramos, assim como por governos de administrações públicas de unidades subnacionais da federação em ações para atrair o turismo. Em ambos os casos, os patrocinadores impõem à escola o tema (o “enredo”) que será apresentado pela escola em seu desfile, utilizando-se assim do próprio desfile da escola como mídia de promoção.
Observe-se que foi um processo de aglutinação de interesses e esforços. As comunidades originais, assim como o Jogo do Bicho, não foram alijadas do comando das escolas de samba. Os novos agentes que passaram a participar não foram absorvidos por “substituição”, mas por “incorporação” à dinâmica do evento.
Hoje, parte significativa da produção dos desfiles das escolas de samba continua ocorrendo nos universos informal e semiformal. A confecção de fantasias é feita por costureiras autônomas, geralmente das próprias comunidades nas quais as escolas estão sediadas, e quase sempre à margem do sistema tributário oficial. Situação semelhante se verifica na construção dos carros alegóricos. A organização e preparação de cada escola contam com profissionais contratados formalmente (alguns com remunerações muito elevadas, como no caso dos carnavalescos mais famosos, cujos salários rivalizam com os dos astros do esporte e da música pop), profissionais contratados sem vínculo formal e até mesmo trabalho voluntário realizado por membros das comunidades.
Assim, o desfile de escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro movimenta diretamente dezenas de milhões de dólares, emprega milhares de pessoas em contratos permanentes e temporários, parte com contrato formal de trabalho e parte sem, e conta com a participação voluntária de outros tantos milhares.
Em suma, uma parcela da operação dessas agremiações envolve o Estado, outra envolve desde grandes corporações transnacionais até microempresas; outra continua se desenvolvendo no universo informal; e parte ainda é operada pelo Jogo do Bicho. Desse modo, em cada uma dessas agremiações encontram-se operando, conjunta e articuladamente, a informalidade absoluta; a semiformalidade; o crime organizado; o Estado; e empresas formais e semiformais de todos os portes e dos mais variados setores, incluindo grupos transnacionais. E isso tudo dando forma a organizações que fogem consideravelmente ao modelo racional-legal weberiano, mas cuja capacidade de produção se equipara, como demonstra Souza (1989) em sua interessante obra Engrenagens da Fantasia: engenharia, arte e convivência – a produção nas Escolas de Samba, àquela das organizações mais bem estruturadas do ponto de vista das modernas tecnologias de gestão. Isso também pode ser depreendido pelo livro Sem Segredo: estratégia, inovação e criatividade, de Paulo Barros (2013). Este último, por sinal, é um daqueles carnavalescos regiamente remunerados aos quais fizemos referência anteriormente.
DaMatta (2000), em seu estudo sobre o carnaval, chama a atenção para o fato de que se trata de uma festa de “inversão”, na qual tem lugar um processo de catarse social. Ou seja, é um momento no qual os participantes manifestam-se frequentemente por meio de uma troca em seus papéis sociais, por exemplo, a doméstica fantasiada de rainha ao lado do patrão, fantasiado de mendigo. E é justamente por esse processo de inversão que conseguimos constatar na arquitetura organizacional responsável pela construção da festa aquilo que é imanente – mas não assumido – das regras de “operação” da nossa sociedade.
Como afirma Maria Laura Cavalcanti (in Gomes, Barbosa E Drummond, 2001):
O carnaval, “comentário complicado sobre o mundo social brasileiro”, dramatiza e acomoda a tensão entre o princípio hierárquico e o princípio igualitário, ambos cruciais na sociedade nacional. […] A pergunta sobre a nacionalidade […] torna o carnaval símbolo integrador de uma imagem de Brasil na coerência aprisionante de um dilema. Mas esse dilema, feito da superposição dos sistemas de valores hierárquico e igualitário, é sobretudo a fonte do movimento da sociedade brasileira, que se resolve desdobrando-se num sistema ritual e simbólico altamente criativo e original (p. 155).
Assim, não é por acaso que essa fusão dos princípios constituidores da sociedade brasileira se manifesta de forma tão explícita na própria organização do carnaval. Sendo esta a principal manifestação da cultura popular nacional, é nela que o referencial simbólico nacional encontra seu veículo mais poderoso de expressão. E é nela também que encontramos uma representativa síntese da construção do espaço econômico da nação.
Mais um exemplo que merece destaque, e que também ocupa espaço proeminente no contexto cultural brasileiro, é o das feiras e mercados. Estes são, também, um locus privilegiado da manifestação da semiformalidade no qual, por sua abrangência territorial, pela concentração espacial e diversidade das atividades, dos agentes envolvidos e de suas relações, a semiformalidade se desenvolve em sua plenitude. Note-se que estes mercados se constituem essencialmente com operações de serviços.
Em um estudo que teve como objeto a Feira de Caruaru (e sua articulação com a Feira da Sulanca) e o Mercado Ver-o-Peso, de Belém, Souza et al. (2012) deixam visível a articulação e a complementaridade entre os setores formais e informais na construção de um sistema único que se desenvolve nesses espaços. Do ponto de vista da oferta, esses espaços operam como pontos de distribuição de produtos de praticamente todas as espécies, indo desde bens manufaturados por grandes indústrias e branding companies[2] (além, evidentemente, do contrabando, da falsificação e da pirataria desses produtos), até produtos agropecuários originários de estabelecimentos familiares de subsistência. O processo de distribuição envolve desde grandes atacadistas, a fornecimento direto pelo produtor. As operações de venda final ao consumidor envolvem desde empresas com porte razoavelmente grande, que controlam diretamente dezenas de pontos de vendas ou operam por meio de mecanismos de sociedades cruzadas que implicam controle indireto também de dezenas de pontos de venda, até ambulantes que oferecem suas mercadorias pelos corredores desses estabelecimentos.
Essa dinâmica se reproduz por todo o país em feiras e “mercados municipais” que se replicam em diversas capitais e cidades de maior porte, como, por exemplo, além dos citados, os mercados municipais de São Paulo, de Porto Alegre, e o Mercado Modelo, de Salvador; em pequenas feiras e mercados de cidades menores; no “camelódromo” da Rua Uruguaiana e no “Calçadão de Madureira”, no Rio de Janeiro; na Rua Santa Efigênia e no Brás, em São Paulo; na “Feira do Importados”, em Brasília; e em tantos outros locais. Em todos eles o que se observa é um sistema que forma um continuum integrado de produção e distribuição, que envolve desde grandes firmas essencialmente formais, até o autônomo individual essencialmente informal, a produção artesanal ou a agropecuária familiar, até incluir mesmo atividades ilícitas. Do ponto de vista do trabalho, envolve também desde o trabalho formal (com contrato de trabalho), até o trabalho precário, o autônomo e o trabalhador semiformal, que possui contrato de trabalho, mas tem parte significativa de sua remuneração “paga por fora”. E, mais uma vez, atividades ilícitas por envolverem trabalho escravo utilizado na produção de muitos dos bens ali comercializados, como é o conhecido caso da indústria têxtil.
A partir desses exemplos, podemos aquilatar a dimensão ocupada pela semiformalidade no Brasil e seu papel como integrador dos universos formal e informal, complementares e componentes essenciais de um único sistema socioeconômico. Como destaca Cacciamali (2007):
[Há uma] subordinação do “Setor Informal” ao padrão e ao processo de desenvolvimento capitalista a nível nacional e internacional. Tal subordinação ocorre em função do ritmo próprio da dinâmica capitalista, que flui ao toque das grandes firmas e dos grupos oligopolistas que, em países periféricos, se encontram, muitas vezes, vinculados ao capital estrangeiro e, em geral, reforçados pelas políticas de governo (p. 150).
Um último ponto a ser abordado concerne à necessidade de uma segmentação clara entre os espaços da informalidade e semiformalidade e o espaço da criminalidade. A despeito das frequentes ligações que as atividades informais ou semiformais acabam muitas vezes estabelecendo com a criminalidade, é possível separar claramente pela sua natureza as que têm origem na realidade cultural e socioeconômica do país, daquelas que são operadas pelo crime organizado – ou “crime negócio”. Este tem objetivos exclusivamente econômicos, ou seja, a acumulação individual sem nenhum caráter de “compensação social”, como é, por exemplo, o caso do comércio internacional de drogas, que estabelece, conforme descrito por Saviano (2014), uma profunda articulação com a economia formal, com destaque para o mercado financeiro global.
REFERÊNCIAS
BARROS, Paulo. Sem segredo: estratégia, inovação e criatividade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.
CABRAL, Sérgio. As escolas de samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. Lumiar, 1996.
CACCIAMALI, Maria Cristina. (Pré-)Conceito sobre o setor informal, reflexões parciais embora instigantes. Revista Econômica, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, 2007.
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
DAMATTA, Roberto e SOÁREZ, Elena. Águias, burros e borboletas: um estudo antropológico do Jogo do Bicho. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMMOND, José Augusto. (Orgs.) O Brasil não é para principiantes: Carnavais, malandros e heróis, 20 anos depois. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
NOGUEIRA, Mauro Oddo. A construção social da informalidade e da semiformalidade na economia brasileira. Brasília: Ipea, 2016. (Texto para Discussão n. 2237).
ROLLI, Claudia. Marca de luxo é ligada a trabalho degradante. São Paulo: Folha de São Paulo (27/07/2013), 2013.
SAVIANO, Roberto. Zero Zero Zero. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
SOUZA, Hamilton Moss de. Engrenagens da fantasia: engenharia, arte e convivência – a produção nas Escolas de Samba. Rio de Janeiro: Ed. Bazar das Ilusões, 1989.
SOUZA, Jessé et al. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
Nota do autor: Este texto é excerto de um trabalho publicado como Texto para Discussão (Nogueira, 2016) que apresenta as diversas estimativas da dimensão do setor informal na economia brasileira. Este, por sua vez, integra um projeto de estudo mais amplo sobre o universo dessas empresas: o livro “Um Pirilampo No Porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil” (no prelo).
As opiniões aqui emitidas são de exclusiva e inteira responsabilidade do autor, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
[1] A primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, foi fundada por Ismael Silva e outros em 1928 no bairro do Estácio (região das favelas do Morro do Estácio e São Carlos). A ela se seguiram a Cada Ano Sai Melhor, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira e a Vai Como Pode. As duas últimas perduram até hoje – a Vai Como Pode foi depois rebatizada como Grêmio Recreativo e Escola de Samba Portela (G. R. E. S. Portela) – sendo ambas, atualmente, as notórias agremiações do carnaval carioca (Cabral, 1996).
[2] Empresas transnacionais que tem sua marca como “produto principal”. Suas operações se concentram no desenvolvimento de produtos, no marketing e na distribuição, normalmente terceirizando todo o processo de produção e logística. Como principais exemplos podem ser citados as grifes internacionais; os artigos esportivos; computadores e software; e telefones celulares.
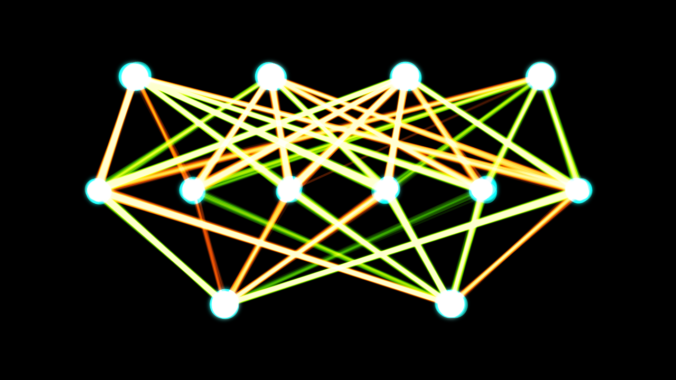
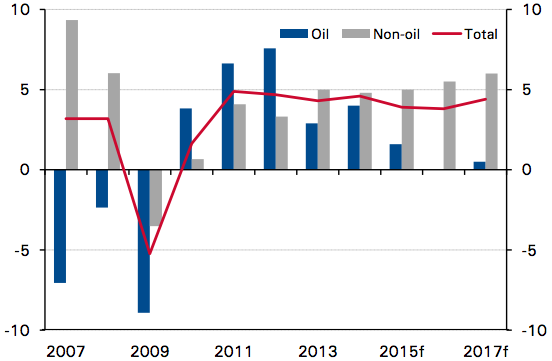
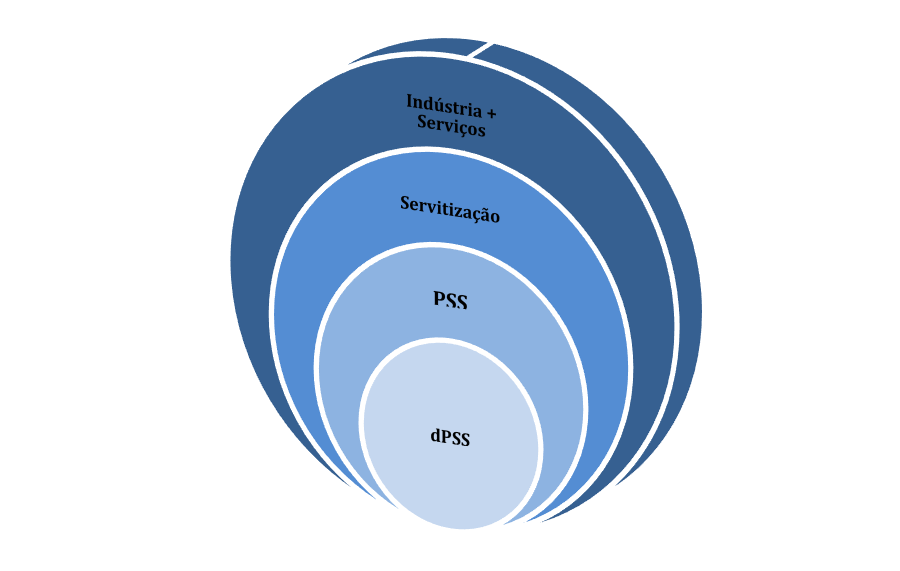
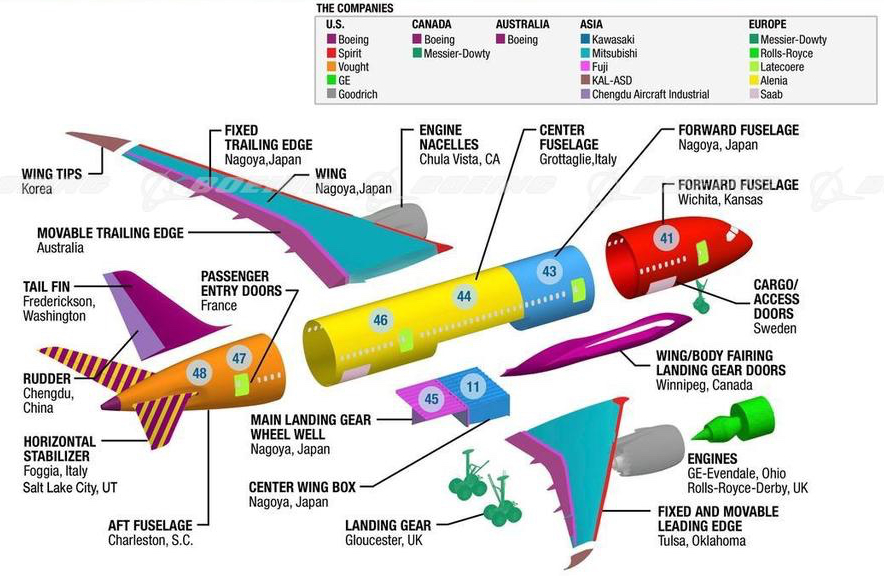

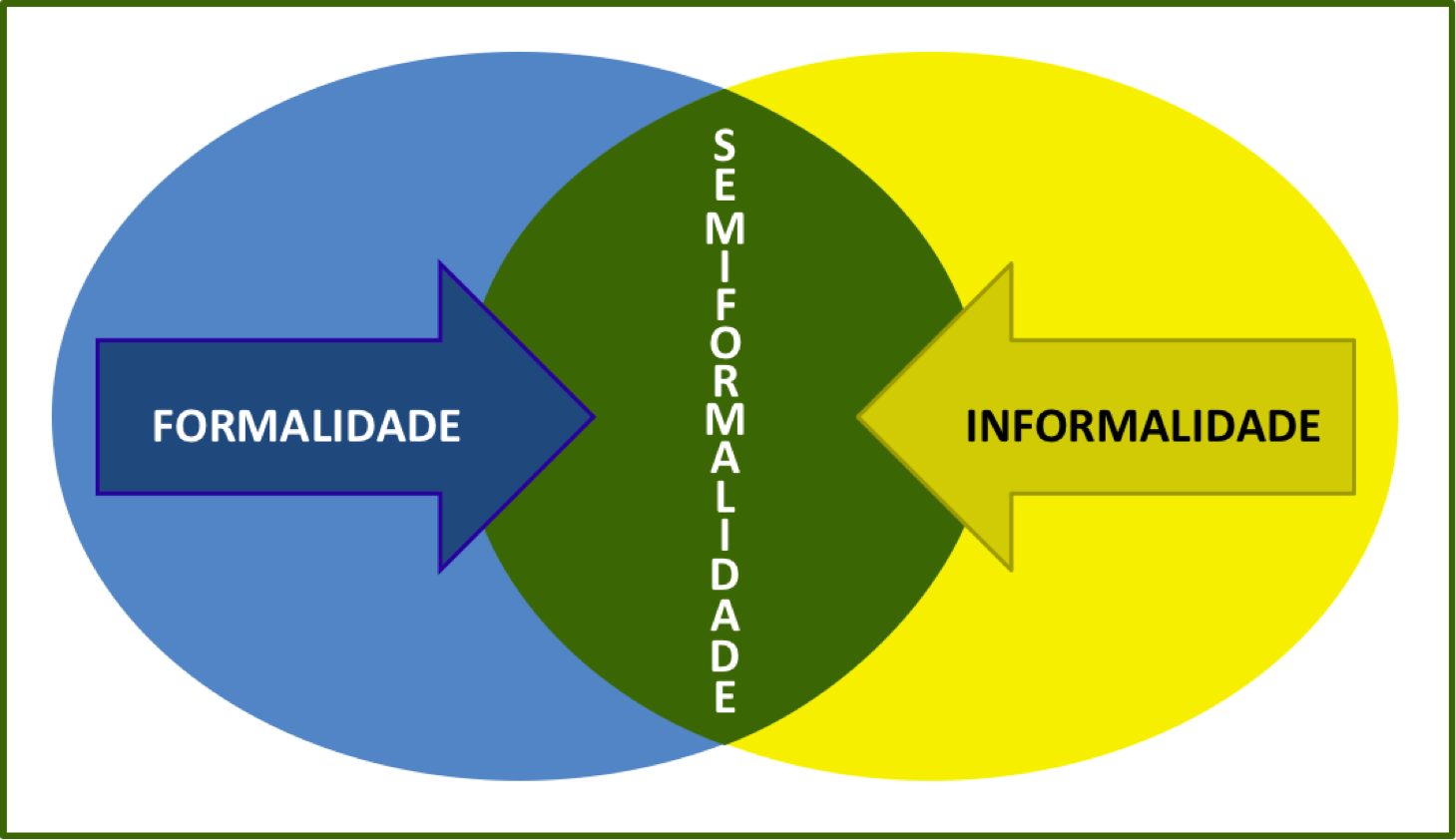




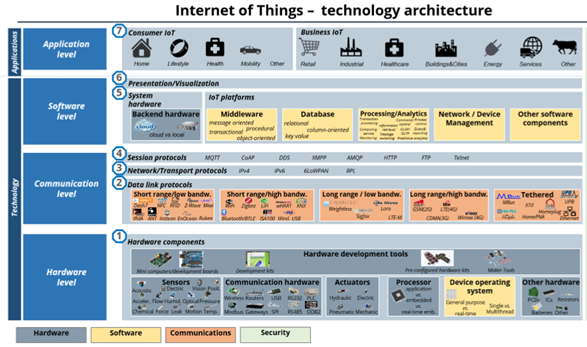

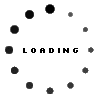




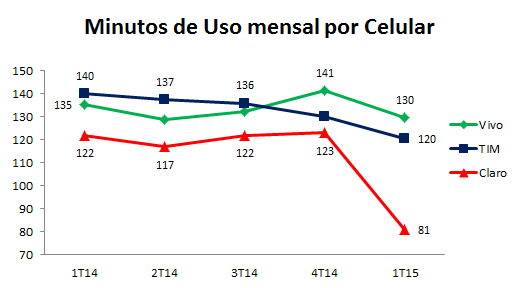

Comentários