Para a maioria dos economistas, o estalido social no Chile foi um “Cisne Negro”. Mesmo assumindo algum tipo de insatisfação social, o Chile parecia o único exemplo de país (fora o sudeste asiático) que teria consumado a ruptura com a armadilha da renda média e proximamente ingressaria no seleto clube de países ricos. Não obstante uns poucos negarem a existência de um “milagre chileno”, as políticas desse país pareciam ser a fundamentação empírica/histórica da pertinência das receitas do mainstream em termos de macroeconomia e crescimento (abertura dos mercados, estabilidade institucional, investimento em capital humano, focalização na área social, etc.). A performance nos indicadores sociais (queda da pobreza, redução da mortalidade infantil, acesso à energia elétrica, cobertura domiciliar de esgoto, etc.) estaria sugerindo que a combinação de um modelo market-oriented com políticas sociais corretamente desenhadas era capaz de superar um suposto conflito entre dinamismo econômico e objetivos sociais.
Contudo, os ganhos em termos de redução das desigualdades não pareciam tão evidentes e duradouros. Em termos de longo prazo, a queda é inequívoca, o Gini caiu de 57,2 em 1990 para 46.6 em 2017. Contudo, nos últimos anos as reduções foram marginais. Por exemplo, em 2013 esse indicador de desigualdade era de 47,3, sendo (como afirmamos) de 46,6 em 2017 (Fonte dos dados do Gini: Banco Mundial). Ou seja, as reduções das desigualdades foram acentuadas nos anos 90 e bem tênues na última década.
As explicações usuais sobre a explosão social no Chile apontam para a desigualdade. A elevação do preço do metrô (+3,75%) seria a “borboleta” que, em um sistema complexo e não-linear como seria uma sociedade, acabou gerando um furacão.
A questão sobre a qual gostaríamos de refletir é: a desigualdade afeta o bem-estar dos indivíduos? Percebamos que estamos colocando a questão em termos microeconômicos e não agregados. Não estamos falando se uma sociedade mais ou menos desigual é mais ou menos “feliz”. Pareceria que as sociedades atuais (na retórica) estão muito preocupadas com o aumento das desigualdades (daí talvez a popularidade do livro de Piketty). Contudo, quais são os fundamentos microeconômicos dessa rejeição às desigualdades? Toda desigualdade merece o mesmo grau de rejeição? Toda desigualdade é injusta? Que nos diz a Teoria Microeconômica sobre a influência da desigualdade sobre nosso bem-estar individual?
Lembremos a primeira aula de Microeconomia. Os argumentos da função de utilidade são os bens e serviços consumidos pelo indivíduo, sendo as utilidades marginais positivas e decrescentes. Essas hipóteses são conservadas no transcurso de todo o curso de microeconomia e mesmo nas disciplinas de macro e crescimento quando as mesmas estão fundamentadas microeconomicamente (como é o caso nas modernas abordagens). Contudo, quando tento me aproximar da questão da desigualdade na sala de aula costumo fazer o seguinte exercício. Escolho um aluno e pergunto o seu grau de satisfação se dou a ele uma nota SS (a menção máxima na UnB). A resposta é a esperada: ficaria muito satisfeito. Ou seja, parece que se confirma a hipótese usual com corriqueiros cursos de micro: o bem-estar dele depende de sua nota. Porém, continuo meu “experimento sobre economia comportamental” complementando a pergunta anterior com outra: eu darei SS para toda a turma. A cara do aluno muda, e, perguntado, afirma que seu grau de satisfação já não é tão elevado. Mudo o contexto e digo para aluno imaginar o grau de satisfação se, contrariamente, toda a turma toda ficasse reprovada e a menção dele fosse um SS. O grau de “bem-estar” aumenta, ficaria eufórico.
O exercício anterior pode ser realizado por qualquer professor e muito dificilmente o desfecho se alterará. Dos resultados podemos deduzir dois corolários. O primeiro diz respeito ao contexto, que necessariamente vai determinar a magnitude da utilidade. Em outros termos, a relação entre o argumento da função e o resultado não depende só da variável, senão das circunstâncias. Neste caso, os pressupostos nos usuais cursos de micro não parecem os mais realistas. O segundo corolário está associado à desigualdade, esta afeta diretamente a utilidade seja de forma positiva ou negativa. Vejamos a seguinte situação. Assumamos que a sociedade está constituída por dois indivíduos, ambos com rendimentos de R$ 100 no período inicial. Suponhamos que no período seguinte um deles eleva sua renda para R$ 120 e o outro continua em R$ 100. Se assumimos uma função de utilidade standard, a sociedade estará melhor no segundo período que no primeiro (inclusive pelo critério de Pareto, alguém está melhor sem que ninguém tenha piorado sua situação). O indivíduo que viu seus rendimentos elevarem para R$ 120 estará melhor por dois motivos: viu aumentar sua renda em termos absolutos (como prediz a abordagem tradicional) e também relativo. A situação do segundo indivíduo não é mais complexa. Na perspectiva microeconômica usual sua situação não se alterou (o rendimento absoluto continua o mesmo). Contudo, em termos relativos se deteriorou, o que pode ter como resultado uma queda no seu bem-estar.
O tratamento da situação relativa sobre o bem-estar individual tem diversas tentativas de abordagem na história do pensamento. Os bens posicionais (cuja demanda está em função do poder ou status que os mesmos simbolizam) têm referenciais em Veblen e Hirsch. Keynes, na sua Teoria Geral, é explicito sobre a relevância dos salários relativos e não absolutos: “The effect of combination on the part of a group of workers is to protect their relative real wage” Contudo, a importância da posição relativa (com respeito aos pares ou a um grupo de comparação ou ao próprio passado do indivíduo) adquire um status de particular importância na denominada Economia da Felicidade. (Nos próximos parágrafos, omitiremos a maioria das referências bibliográficas. Os argumentos e fundamentação vão poder ser encontrados em Ramos, C.A., Economia da Felicidade. Precisamos do PIB para ser felizes? Altabooks. 2019. Forthcoming)
Diferentemente do modelo usual, o bem-estar subjetivo de um indivíduo (como animais sociais que somos) dependeria de sua comparação com o seu contexto de referência (família, amigos, colegas de trabalho, etc.). Quanto maior o diferencial (a seu favor, obviamente) maior a sensação de bem-estar. Dessa forma, se as pessoas mais ricas se auto-declaram mais satisfeitas com a vida, essa sensação não se nutriria do maior consumo de bens e serviços senão de sua posição relativa. Em nosso exemplo anterior, se um indivíduo elevou sua renda para 120 estaria em situação melhor não pelo maior acesso a bens que essa maior renda propiciaria, senão porque o outro integrante da sociedade permaneceu com sua renda em 100 e sua posição relativa mudou. Ou seja, a desigualdade foi a matriz que alimentou o aumento de seu bem-estar.
Obviamente, e assumindo uma simetria, o indivíduo que permaneceu com a renda constante (100, em nosso exemplo) viu seu bem-estar subjetivo se deteriorar. Nesse sentido, o balanço geral fica em aberto. Contudo, existe um fenômeno que na literatura se apelida de “efeito túnel”, denominação devido a um conhecido artigo de Hirschman e Rothschild. Basicamente esse efeito diz respeito à informação que proporciona a trajetória do indivíduo que logrou se distanciar de minha posição, indicando minhas possibilidades e a probabilidade de existência de um progresso social que, eventualmente, poderia beneficiar-me.
Contudo, esse “olhar para o lado” (para seu grupo social de referência) não é a única dimensão onde o relativo é importante. Contemplar o próprio passado e, sobretudo, as expectativas que sobre o futuro o indivíduo imaginou e sua concretização ou não no presente, também podem ser fonte de bem-estar ou frustração. Hoje todo indivíduo fantasia como será seu futuro e, quando este chega, compara a sua situação real com a imaginada. Se a condição concreta está aquém do fantasiado (mesmo que em termos absolutos se tenha observado uma melhoria) o resultado pode ser o desapontamento. Este referencial no passado é importante porque uma desaceleração do crescimento (não uma recessão) pode ser um motivo que alimenta o desencanto. No caso concreto do Chile, o país chegou a crescer a taxas de 11% (1992), desacelera para percentuais entre 5/6% nos anos 2000 e passa a obter resultados de 1/2% nos últimos anos (Fonte: Banco Mundial). Ou seja, o presente pode não ser o que foi imaginado.
Em termos instrumentais, podemos ampliar a leque de possibilidades. Observemos que, quando afirmamos que como animais sociais estamos à procura constante de status (nos diferenciar), descartamos um olhar onde a solidariedade pode ter um rol relevante para alguns indivíduos. Nesse sentido, podemos formular uma função de utilidade onde caibam tanto a procura de status quanto a solidariedade e deixar em aberto o peso de cada uma delas segundo o indivíduo. Vejamos a seguinte função de utilidade:
U (x;y) = F(x)-α Max (y-x;0)-β Max (x-y;0)
Onde: x=a renda do indivíduo; y=a renda do grupo de referência; α e β parâmetros.
No caso de α= β=0 estamos na função de utilidade tradicional que ensinamos em qualquer curso de Micro: a posição relativa ou a situação dos outros não importa. Calibrando os parâmetros α e β podemos simular distintas situações, como indivíduos nos quais convivem a procura de status e a solidariedade, mas uma variável pode ter mais peso que outro de acordo com cada caso.
Vemos que, em termos de fundamentos microeconômicos, a questão do impacto sobre bem-estar fica em aberto, não podemos microfundamentar uma relação entre bem-estar e desigualdade para a sociedade em seu conjunto.
Já em termos agregados, podemos apelar à cultura e como distintas sociedades são mais ou menos avessas à desigualdade. Nesse sentido, o conhecido artigo de Alessina, Di Tella e McCulloch (2014) sugere uma diferença entre os EUA e a Europa no tocante ao impacto da desigualdade sobre a auto percepção de bem-estar, sendo o impacto negativo menos sensível nos EUA. Por exemplo, entre os mais pobres da Europa a aversão à desigualdade seria evidente, não existindo relação no caso dos EUA.
Essa diferenciação pode ter como origem o sentido de justiça, ou seja, em que situações uma dada distribuição de renda seria justa ou injusta. Essa valoração dependeria de heranças culturais. A sorte, o azar, a loteria da vida como fonte de desigualdades seria assumida como injusta nos países nórdicos, porém mais aceita nos EUA. Por outra parte, neste último país, a riqueza seria assumida mais como resultado de esforço, dedicação, etc. (a ideologia do self-made man) que como o corolário de indicações, conexões, heranças, etc., como seria o caso da Europa.
Ou seja, em termos teóricos (especialmente no tocante à micro-fundamentação) generalizações parecem pouco plausíveis. Diante desse vácuo, o natural é apelar ao empirismo e, nesse caso, os resultados são diversos e a “variável cultura” preenche a incapacidade de fazer generalizações. Contudo, certos aspectos parecem robustos. As nossas atenções não teriam que se direcionar pura e simplesmente à desigualdade, senão à desigualdade que uma sociedade considera injusta e o sentido de justiça distributiva varia de sociedade a sociedade (ainda que a desigualdade de oportunidades, não de resultados, pareça gozar de certo consenso sobre seu caráter injusto).
%MCEPASTEBIN%


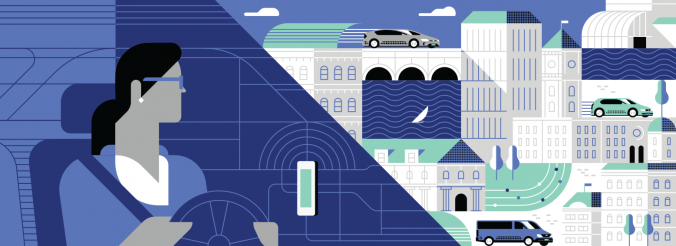









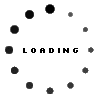




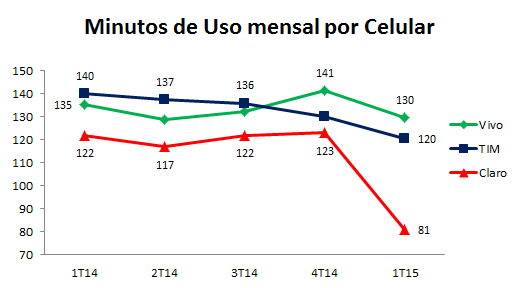

Comentários