Em um recente artigo, em sua coluna no Estadão, Pedro Nery avalia as alterações que estão sendo debatidas em torno às mudanças na formatação legal dos resgates no FGTS. Com seu habitual estilo, no qual temas que podem ser complexos e intrincados são apresentados em uma linguagem coloquial extremamente agradáveis de serem lidos, no texto em questão ele compartilha ou assume um diagnóstico relativamente usual em certos ambientes académicos. As atuais propostas de alteração nas retiradas do FGTS têm como referencial conceitual esse diagnóstico que, avaliamos, encerra diversas debilidades teóricas. Nesse sentido, na medida em que as sugestões de novos arcabouços institucionais estão ancoradas nesse posicionamento, debater essas fragilidades conceituais pode acabar sendo uma contribuição para aprimorar o futuro marco legal.
Basicamente, o argumento assumido por Pedro Nery em sua coluna de 30 de julho no Estadão sustenta que o FGTS faz parte de uma ordenação legal de proteção ao assalariado desligado sem justa causa que acaba decorrendo em maior rotatividade (menor tempo de duração do vínculo) e, indiretamente, resulta em menor crescimento potencial. Esta interpretação tem diversos referenciais bibliográficos (ver, por exemplo, Camargo (1996), Gonzaga (1998)), nos quais o FGTS faria parte de um leque de incentivos adversos (os outros seriam a multa sobre o saldo do FGTS, o mês de aviso prévio, as parcelas do seguro-desemprego) à permanência no posto de trabalho, ou seja, constituiria um incentivo à rotatividade. Os meandros mediante os quais esse conjunto de benefícios induziria à rotatividade são diversos. Para nos restringir ao FGTS, podemos citar dois aspectos. O primeiro diz respeito à remuneração desse fundo, que em não poucas oportunidades ficou aquém da inflação (perdas reais). Combinada com essa particularidade, de per si desfavorável a uma aplicação financeira, podemos agregar o segundo aspecto: a taxa de desconto que, no caso dos assalariados mais pobres, pode ser extremamente elevada. Ou seja, existiriam fortes incentivos à retirada dessa poupança forçada (lembremos que o FGTS não é outra coisa que uma poupança forçada) e aplicar esse montante seja em outra opção mais rentável seja no consumo. Existem diversas janelas para a retirada do FGTS (doenças como câncer e aids, compra da casa própria, etc.) mas, na ausência do preenchimento dos pré-requisitos para seu acesso, o óbvio seria forçar o desligamento sem justa causa.
Esses incentivos à rotatividade (uma rotatividade que seria espúria, produto de fronteiras de curtíssimo prazo por parte do assalariado) teriam desdobramentos sobre o longo prazo. Ao estar diante de uma perspectiva de vínculo extremamente reduzida, no olhar do empregador qualquer investimento (qualificação) no capital humano do assalariado não seria rentável. Dessa forma, à reduzida escolaridade da força de trabalho no Brasil (que já, por si só comprometeria a produtividade) deveriam ser agregadas as limitações (via incentivos) que o contexto legal-institucional introduz nas possibilidades de contornar a insuficiência da educação formal via acumulação de habilidades e proficiências no posto de trabalho. O resultado mais ou menos óbvio seria um crescimento potencial de longo prazo em doses homeopáticas.
Qual seria a proposta de política que se deduz desse diagnóstico? Evidentemente alterar esses incentivos à rotatividade e uma das possibilidades seria modificar o pagamento do FGTS. Por exemplo, permitir que o mesmo seja retirado anualmente ou, no outro extremo, só poderia ser retirado na aposentadoria. Nos dois casos, o assalariado não teria a incitação para induzir seu desligamento sem justa causa a fim de resgatar uma poupança que considera própria e que no seu balanço de custo/benefício prevalece a sedução da retirada. Podem ser imaginados outros desenhos institucionais (por exemplo, estabelecer tetos a partir dos quais não existiria contribuição, tornar o percentual variável e decrescente no tempo, etc.), mas, em todos os casos, o objetivo seria o mesmo: reduzir o suposto encorajamento à rotatividade.
Logicamente, o diagnóstico que acabamos de sintetizar precisa de uma validação empírica. Nesse sentido, as pesquisas são reduzidas e prevalece o modelo teórico (ou seja, prevalece uma possibilidade ou hipótese) para subsidiar desenhos de políticas. Porém, consideramos, justamente, que esse modelo apresenta enorme fragilidade teórica, vulnerabilidade que pretendemos desenvolver nos próximos parágrafos.
Observemos que todo o diagnóstico assume um agente (o assalariado) que pauta sua ação em função dos estímulos proporcionados pelo contexto legal/institucional que regula as relações capital-trabalho. Sua perspectiva de ganhos no curto prazo teria custos, seja para o trabalhador ele mesmo (ao inibir a acumulação de capital humano por parte do empregador, reduz as possibilidades de futuros aumentos de salários) seja para o crescimento do país seja para o próprio empregador, que reduziria a possiblidade de incorporar tecnologias, elevar a produtividade, investir, etc.. Os custos para o próprio empregador são evidentes e podem ser observados nas pesquisas que indicam que, para eles (empregadores), a falta de mão-de-obra qualificada é a principal restrição ao crescimento (ver, por exemplo, aqui). A pergunta natural é: por que não investem na qualificação de seus recursos humanos? Sabemos que, internacionalmente, existem diferentes configurações institucionais, podendo prevalecer seja o Estado proporcionando diretamente o treinamento/reciclagem, seja os próprios empresários assumindo a oferta mediante incentivos fiscais, seja iniciativas próprias das firmas à margem de qualquer iniciativa estatal (ver aqui). Existe literatura identificando a possibilidade teórica de uma firma investir no capital humano geral de seus assalariados (capital humano que pode ser utilizado em outras vagas além da firma que proporcionou o treinamento) com certa validação empírica (ver, por exemplo, aqui). Assim, a pergunta pertinente é: os incentivos adversos no Brasil seriam de tal magnitude que interditam o investimento por partes das firmas no seu próprio estoque de assalariados, mesmo identificando na falta de formação de sua mão-de-obra a principal limitação ao crescimento?
Dado que esse contexto institucional é próprio de cada país, voltemos ao modelo teórico que ancora as prescrições que hoje estão sendo discutidas no Brasil.
De início, observemos que esse marco conceitual apresenta só um agente ativo: o assalariado. O seu comportamento penaliza o outro agente (o empregador) que ficaria passivo e a mercê da conduta especulativa do primeiro. Esta suposição é insustentável. Detenhamo-nos neste aspecto.
Os incentivos do marco regulatório das relações capital-trabalho devem pautar não somente a conduta dos assalariados, mas também a dos empregadores. Ou seja, um marco regulatório não gera incentivos apenas a uma das partes, senão a todos os agentes que participam dos jogos. A hipótese de um arcabouço legal que gere incentivos a apenas uma das partes, não obstante seu irrealismo, está implícita no diagnóstico que apresentamos no começo do artigo.
Uma vez que um dos custos da demissão sem justa causa é a multa sobre o saldo do FGTS, o horizonte temporal do vínculo também deve alterar a conduta dos empregadores e existem evidências que o curto-prazismo também pauta o comportamento dos empregadores (ver aqui). Nesse sentido, vamos levantar a passividade do outro agente (os empregadores) e assumir que eles têm capacidade de reagir. Eles, necessariamente, são induzidos a não ficar contemplativos, uma vez que a rotatividade (com seus efeitos deletérios sobre as possibilidades de investimento no seu estoque de capital humano) impõe barreiras ao crescimento da empresa. A pergunta agora é: por que assumir uma atitude totalmente passiva por parte do empregador? qual é a justificativa teórica? A resposta é: absolutamente nenhuma. Não existe justificativa teórica que abra a possibilidade de assumir um jogo com um só jogador (o assalariado), sendo absolutamente passivo o agente que interage com ele, suportando estoicamente os custos. Não existem instrumentos que os empregadores possam recorrer para contornar a conduta especulativa dos assalariados? A resposta é sim, está sedimentada na literatura: o pagamento de salários de eficiência ou o estabelecimento de salário superior aos salários de mercado (salários diretos ou indiretos, como aposentadoria privada, bônus, plano de saúde, etc.). Ou seja, não existem justificativas teóricas que nos permitam assumir que, dado o marco regulatório das relações capital-trabalho, a taxa de rotatividade esteja exógena para o empregador, determinada, exclusivamente, pela conduta especulativa dos assalariados. As firmas têm capacidade de administrar essa taxa e a ferramenta são as remunerações (diretas e indiretas) que pagam a seus assalariados (ainda que possamos imaginar outras possibilidades, como o ambiente do lugar de trabalho, as expectativas de progressão funcional, etc.). Não imaginamos nenhum pretexto para não levar em consideração os modelos de salários de eficiência e as pertinências de uma firma maximizadora de lucros administrar a taxa de rotatividade. Dada a sedimentada literatura em torno do pagamento de salários além dos pagos nos mercados concorrenciais como forma de maximizar lucros, o desafio fica a cargo dos que sustentam o diagnóstico. Ou seja, a não consideração da possibilidade de pagamentos de salários de eficiência teria que ser justificada.
Segundo o modelo canônico, quanto menor a disponibilidade de um fator, maior seu retorno ou rendimento (lembremos as condições de Inada). Ou seja, se as habilidades e competências são realmente escassas e constituem a principal restrição ao crescimento das firmas, seu retorno teria que ser elevado, abrindo espaço para o pagamento de salários de eficiência. Contudo, existe um outro fator que elevaria os custos, além da baixa produtividade, que também não está sendo levado em consideração. Se o diagnóstico segundo o qual o assalariado induz a rotatividade para ter acesso ao FGTS e demais benefícios (multa, aviso prévio, etc.), a relação de causalidade seria: desligamento → contratações. Ou seja, ceteris-paribus, ao provocar seu desligamento, o trabalhador induziria uma nova contratação que visaria sua substituição, o preenchimento da vaga aberta pela sua partida. Legalmente, o aviso prévio serviria tanto para o assalariado se concentrar nas atividades de procura (no caso de um desligamento sem justa causa de iniciativa do empregador) quanto para procurar e treinar um novo assalariado (no caso de um desligamento cuja origem seja uma iniciativa do assalariado). Contudo, na prática, esse intervalo de trinta dias não é respeitado e as relações têm uma ruptura abrupta. Nessas circunstâncias, o desligamento induzido pelo assalariado abriria uma vaga que deverá ser preenchida mediante uma nova contratação, que requer tempo de procura, tempo de treinamento, etc., custos que na literatura se conhece como “custos fixos”. Preencher os requisitos de trabalho de forma imediata pode requerer a utilização mais intensiva de outro assalariado. Nesse sentido, pode-se apelar a horas extras e/ou a um outro assalariado que anteriormente era subutilizado. Ou seja, sabendo-se da rotatividade, o estoque de mão-de-obra pode estar, na posição de equilíbrio, sobredimensionado. Em qualquer caso, estamos diante de elevações de custo (seja pela utilização temporária de horas extras seja por um estoque de mão-de-obra sobredimensionado) que vão além da falta de qualificação (produtividade) dos assalariados. Reduzir esses custos (via queda na rotatividade) também justificaria o pagamento de salários de eficiência.
Ou seja, não existem justificativas teóricas para assumir que a rotatividade está determinada, exclusivamente, pelo comportamento de um dos agentes (o assalariado). As firmas podem administrar a rotatividade e uma vez que o horizonte temporal do vínculo tem desdobramentos sobre os custos, existem elementos para afirmar que existe espaço para assumir que os empregadores poderiam pagar salários de eficiência. Assumir que não estão pagando salários de eficiência pode redundar em abraçar a hipótese de firmas não maximizadoras de lucro, hipótese cara ao modelo padrão.
Direcionemos, agora, nossas atenções ao assalariado. Assumamos que o mesmo tenha uma elevada taxa de desconto intertemporal, admitamos que o retorno financeiro do FGTS possa incorrer em perdas reais e não seja a melhor alternativa de aplicação, etc.. Dado esse contexto, podemos deduzir que é racional utilizar a rotatividade como forma de resgatar o saldo do FGTS e auferir os ganhos complementares (multa, aviso prévio, etc.)? Esse corolário não é necessariamente imediato. Se lembramos que a rotatividade redunda em custos para as firmas, no momento da contratação os empregadores avaliarão os sinais de empregos anteriores, a duração dos vínculos e privilegiarão aqueles candidatos com tempo de permanência mais elevado. Em outros termos, os trabalhadores com maiores índices de rotatividade terão menos probabilidade de preencher as vagas disponíveis. Se assumimos que os assalariados sejam conscientes dessas menores chances e sejam racionais, seria uma hipótese ousada abraçar a ideia que o FGTS e os benefícios a ele atrelados, necessariamente, se exteriorizarão em condutas especulativas que tendem a reduzir o horizonte temporal dos vínculos. A esse risco (menores probabilidades de emprego futuro no segmento formal do mercado) poderíamos agregar outros, como a risco de não ser contratado depois de esgotados os benefícios, por exemplo.
Em qualquer circunstância, ampliar a estabilidade dos vínculos tem benefícios para as partes e externalidade para a sociedade. Sobre esse aspecto existem mais consensos que debate (ver, por exemplo, aqui). Também existe certa unanimidade sobre o circunscrito horizonte temporal dos vínculos celetistas no Brasil, que escassamente ultrapassam os 4 anos (Fonte: RAIS). Ou seja, alongar o limiar dos vínculos deve ser um objetivo de política e formatar um ambiente institucional para facilitar essa ampliação deve necessariamente nortear os debates sobre as reformas legais que pautam a relação capital-trabalho. Contudo, focalizar as atenções, de forma quase excludente, em uma suposta estratégia especulativa curto-prazista dos assalariados para auferir os ganhos financeiros que outorgam o atual marco legal parece uma simplificação analítica pouco sofisticada. Essa interpretação levanta mais perguntas que disponibiliza respostas. Se as entidades empresariais identificam na qualidade da mão-de-obra o principal obstáculos para seu crescimento, por que não investem na sua formação? O horizonte temporal dos vínculos não viabiliza esses investimentos, por que não administram essa rotatividade? Elas têm formas de influenciar no tempo de permanência. Por que o diagnóstico vigente assume que só o assalariado reage aos incentivos? O que leva a assumir que as firmas são passivas, ficando na conduta especulativa do trabalhador o determinante da rotatividade?
Em realidade, o que no fundo deve ser debatido é a qualidade dos postos de trabalho. Mesmo no setor formal, o tempo médio de duração do vínculo no Brasil é a manifestação de uma economia que não é capaz de gerar vagas com elevada produtividade. Não parecem satisfatórios os diagnósticos que se empenham em identificar no FGTS e nos benefícios ao trabalhador desligado sem justa causa uma variável com capacidade de alterar esse quadro. Talvez a relação de causalidade seja outra: dado que os postos de trabalho não são de qualidade (elevada produtividade) as firmas são incapazes de pagar salários de eficiência, os assalariados identificam nas condutas especulativas ganhos que superam os benefícios que obteriam permanecendo na mesma vaga, etc.. Isso, logicamente, não significa que todo o arcabouço regulatório não deva ser repensado, mas as justificativas e o desenho proposto podem ser outros. Por exemplo, carece de racionalidade ter dois tipos de compensação financeira ao celetista desligado sem justa causa (FGTS + seguro-desemprego); o FGTS, ao elevar o custo do trabalho, tem impacto negativo sobre o emprego e ao continuar existindo, o assalariado teria que ter liberdade de aplicar sua poupança na alternativa financeira de sua escolha, etc….. Esses argumentos são válidos. Contudo, não existem elementos que permitam depositar esperanças nas alterações em debate no pagamento do FGTS como um atalho para elevar a proficiência dos trabalhadores via elevação dos investimentos em formação, sendo o corolário postos de trabalho de maior qualidade e produtividade. Os argumentos analíticos que sustentam essa ilusão são de uma assustadora simplicidade.
Autor:

Carlos Alberto Ramos é Professor do Departamento de Economia, UnB. Graduação Universidad de Buenos Aires, Mestrado na Universidade de Brasília, Doutorado na Université Paris-Nord.

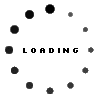




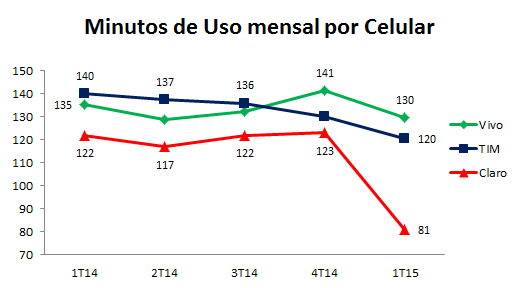

Deixe um comentário