Vivemos em tempos sombrios. Pelo menos é isto que se é levado a crer pelo zeitgeist atual, conforme refletido em uma série de livros, artigos, blog posts, podcasts e outros meios de expressão. Aparentemente, algumas das realizações e expressões mais estimadas da humanidade (ocidental) estão a perigo ou efetivamente mortas. O caso mais saliente é a democracia. Há tantos livros sobre a morte da democracia, que a resenha no Washignton Post sobre o livro How Democracies Die por Steven Levitsky e Daniel Ziblat (2018) o classifica como sendo: “The best death-of-democracy book I read in 2018.” O tema também tem feito aparições assíduas em podcasts recentes, como o episódio The Death of Democracy no podcast Start the Week da BBC4, ou então o episódio Is Democracy Dead? no podcast Please Explain. Variações em torno do tema anunciam a morte do discurso político civilizado (Washignton Post), e o fim do consenso (The Guardian).
Da mesma forma, tem-se ouvido muito a respeito da morte do liberalismo, entendido como a situação onde uma maioria pode de facto e de jure violar os direitos de minorias, mas opta por não fazê-lo. A chegada recente ao poder de uma série de líderes populistas e autoritários, mesmo em países onde este tipo de coisa não costumava acontecer, seria evidência do fim da ordem liberal mundial. Vide, por exemplo, o artigo Liberal World Order R.I.P. Segundo um debate recente na London School of Economics com o título Crisis of the Liberal World Order, or is the West in Decline?, estaríamos vendo o declínio do senso compartilhado de sucesso, dentro de países e entre grupos de países. É este senso compartilhado de sucesso que garantia o mínimo de terreno comum para que se pudesse resolver ou atenuar conflitos e permitir a continuada geração de prosperidade. Segundo trabalho recente de Dani Rodrik há uma diferença crucial entre democracias eleitorais, que escolhem seus líderes através de eleições, e democracias liberais, que asseguram igualdade perante a lei para minorias. E pelo que se lê e ouve recentemente teremos cada vez mais eleições, mas cada vez menos igualdade e respeito aos direitos de minorias raciais, religiosas, de gênero, de classe, de origem geográfica, etc.
Há alguns anos atrás já havíamos sido informados por Larry Summers que vivemos em uma Estagnação Secular, e por Tyler Cowen que já colhemos os frutos mais baixos e estamos fadados a passar por uma Grande Estagnação. Isto quer dizer que não devemos esperar, como no passado, que crescimento econômico eventualmente retorne e resolva todos os problemas. A expectativa que cada geração terá uma qualidade de vida melhor que a anterior, supostamente não vale mais. Produtividade segue enigmaticamente em queda contínua, apesar de todo avanço tecnológico que parece estar à nossa volta, um fenômeno cunhado de Paradoxo da Produtividade por Robert Solow. E se você acha que pesquisa e inovação vai virar o jogo, pense novamente: a taxa global de inovação já vem arrefecendo a algum tempo. E se você tem esperança que globalização e maior interação entre os países possa ser a solução, a revista The Economist recentemente trouxe uma capa sobre Slowbalization, a morte da globalização.
Anuncia-se também a morte do sonho de um mundo menos desigual, a medida que aumenta o fosso entre os mais ricos e os mais pobres em diversos países do mundo, conforme documentado por Thomas Piketty. Isto, por sua vez, está relacionado com a morte da classe média: a NPR (Radio Nacional Pública dos EUA) noticiou em 2016 que pela primeira vez desde 1970 a classe média não era o principal estrato populacional nos EUA. Isto, por sua vez, vem acompanhado da morte do emprego fixo (the end of work) e carreiras imersas na incerteza da gig economy.
Uma vez que se começa a prestar atenção, passa-se a encontrar cada vez mais notícias da morte de algo que antes parecia eterno, incluindo algumas coisas que supostamente já morreram há algum tempo, como o fim das religiões, o fim do futebol arte, e, como nos avisou The Who lá atrás em 1972, a morte do rock’n roll (dê uma olhada no The Hot 100 da Billboard e veja quantos grupos de rock você consegue encontrar. Reposta: nenhum! Experimente comparar com o Hot 100 de qualquer semana quinze anos ou mais atrás.) Já se anunciou até que estamos vivendo em uma era pós-verdade e não podemos acreditar em que nos dizem. Caso eu tenha omitido a morte de alguma realização humana importante, peço que os leitores incluam nos comentários.
Tudo isto é muito alarmante e desestabilizante. Mas, como afirmou Mark Twain: “The rumours of my death have been greatly exaggerated.” Basta pensar bem sobre qualquer um destes casos e provavelmente a tranquilidade se reestabelece. Não é de hoje que ‘a morte de X’ vem sendo anunciada, e no mais das vezes o futuro se recusa a cooperar. A figura de profetas vestindo um cartaz “O Fim é Eminente” (The End is Nigh) é um estereótipo, mas vários cultos autênticos já passaram pelo vexame de chamar a atenção do mundo para o dia do juízo final, e depois ter que explicar por que a profecia falhou. O termo ‘dissonância cognitiva’ foi criado por Leon Festinger da New School for Social Research, justamente para retratar a insistência de membros de tais grupos em continuar acreditando, apesar das reiteradas evidências em contrário (vide o livro When Prophecies Fail). Um exemplo acadêmico dos riscos de se profetizar ‘o fim de X’ é o best-seller de Francis Fukuyama The End of History de 1992, onde sugeriu que com a queda do Muro de Berlim, a última alternativa ao liberalismo havia morrido e com isto o mundo entraria em uma nova e última fase onde veríamos o triunfo do Ocidente. Outro exemplo é a previsão Marxista de que o capitalismo continha dentro de si sua própria destruição, que levaria necessariamente ao socialismo.
É interessante que previsões alarmantes e pessimistas parecem atrair muito mais atenção do que analises otimistas e baseadas mais rigorosamente em evidências que mostram o quanto as coisas tem melhorado ao longo do tempo, como o livro The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined, de Steven Pinker (2011) e o trabalho de Hans Rosling com seu projeto Gapminder que visa disseminar o uso intensivo de estatísticas para melhor se compreender o mundo.
Então, não há motivos para pânico e podemos dormir tranquilos.
Mas será que realmente podemos? Recentemente tenho visto em diferentes lugares uma nova previsão que me parece um pouco mais preocupante do que as outras: o fim da competição, e com isto o fim do capitalismo como o conhecemos. O que mais me chamou a atenção foram as fontes que têm feito este alerta, pois são fontes explicitamente liberais, pro-mercado e não afeitas a sensacionalismo ou teorias de conspiração. A primeira foi um special report na The Economist com o título The Age of Giants, no qual alertam que um grupo de empresas têm se tornado excessivamente poderosas e que governos e antitruste tradicional estão cada vez mais incapazes de regulá-las ou impedir as consequências nefastas que sua atuação vêm cada vez mais trazendo à luz. As pessoas costumam colocar a culpa do estado das coisas em banqueiros, políticos, especialistas, burocratas, estrangeiros, na China, entre outros. Mas segundo este artigo a verdadeira ameaça pode estar justamente naquelas empresas que nos provêm, muitas vezes de graça, os produtos e serviços que mais gostamos. Onde antes competição via mercado ou imposta por autoridades antitruste seriam capazes de limitar o abuso do poder destas grandes empresas, hoje, com efeitos de rede e outras características de mercados digitais, não haveria forças capazes de contê-las (vide o post de João Pedro Arbache neste mesmo blog em 31/01/2019 sobre as características destes novos mercados). Segundo a revista o aparato antitruste desenvolvido para a velha economia de cimento e tijolo está em um perigoso estado de decadência intelectual que favorece uma perigosa falta de ação em um mundo que está rapidamente mudando.
Recentemente o Departamento de Justiça Americano tentou impedir uma fusão entre a AT&T e a Time Warner, mas foi revertida por um juiz que chancelou o acordo de US$85 bilhões. Uma fusão posterior entre a Walt Disney e a Twenty-First Century Fox valendo US$71, 3 bilhões não foi contestada nos EUA, e está sendo acompanhada pelo CADE assim como autoridades antitruste na Europa e até na China. Em outro caso recente a American Express ganhou na Suprema Corte Americana um caso em que o governo a acusava de abusar sua posição como mercado de lados. Eu não quero sugerir que necessariamente estes casos em particular sejam evidência de erros na área de competição, mas sim que ilustram a natureza cada vez mais complexa das situações que envolvem muitas grandes empresas atualmente. É justamente a incapacidade do aparato antitruste teórico e prático atual de nos ajudar a entender a fundo estes casos que é o problema.
A segunda fonte com uma mensagem semelhante foi o podcast Econtalk (25/02/2015) que entrevistou Mike Munger (Duke University) sobre um texto recente com o título The Road to Crony Capitalism. Em 1944 Hayek avisou do perigo da intervenção governamental em The Road to Serfdom ao prevenir que mesmo um pouco de planejamento central tendia a gerar distorções que requerem cada vez mais planejamento, até que não há mais volta de uma economia ineficiente e atrasada. Em The Road to Crony Capitalism o argumento é que a medida que as empresas crescem e se tornam cada vez mais poderosas, elas estão cada vez mais em posição de usar o Estado, via lobby, tarifas, concessões, regulamentação, etc., para atingir seus fins, fazendo com que fiquem ainda mais poderosas e dominantes, levando também a uma economia desigual e ineficiente. No novo cenário de economias de rede, as empresas tenderiam cada vez mais a se encontrar em tal situação, e mesmo aquelas que preferissem optar por não jogar o jogo do capitalismo de compadrio, não teriam esta opção, pois seriam forçadas a participar pelos seus próprios acionistas que esperam lucros, ou por investidores hostis sem tais escrúpulos. Bill Gates, por exemplo, tentou evitar que a Microsoft lançasse mão de lobistas e outras estratégias semelhantes. Para ele a Microsoft seria uma empresa diferente. Mas após o traumático caso antitruste do governo Americano contra a inclusão do Internet Explorer no Windows 95, ficou claro que esta não era uma opção viável. Da mesma forma, a Google, que provavelmente vislumbrava algo semelhante quando escolheu em 2000 o motto Do No Evil, optou recentemente por remover esta menção em seu código de conduta oficial.
O que é mais alarmante diante destas perspectivas é que, se realmente forem verdadeiras estas ameaças, o que pode ser feito? A primeira linha de defesa deveria ser a competição. Normalmente o próprio mercado daria um jeito à medida que lucros altos fizessem com que novos entrantes criassem novos produtos e novas firmas que corroeriam as vantagens adquiridas pelas grandes empresas. Quando isto falhava, havia sempre antitruste, que é uma forma de competição artificial, quando a coisa real não emerge por conta própria. Mas, conforme argumentado acima, e conforme um novo livro por Tim Wu (que cunhou o termo ‘neutralidade de rede’) The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, o estado atual do estabelecimento antitruste não é capaz de nos proteger. A situação é de tal forma desesperadora, que no episódio de Econtalk mencionado acima, os interlocutores se veem forçados, com embaraço confessado, a sugerir que o que precisamos é de pessoas boas e morais. Nenhum sistema pode funcionar se as pessoas não tiverem um mínimo de escrúpulos, princípio e normas. Se os donos e dirigentes das empresas se recusarem a jogar o jogo do capitalismo de compadrios a situação poderia ser atenuada.
Este argumento parece incrivelmente ingênuo e vazio, especialmente vindo de dois economistas libertários e adeptos à Public Choice. Economistas tendem a ser mais maquiavélicos e defender que um bom sistema tem de ser desenhado para funcionar até com pessoas com as piores intenções. Ou, como colocou Milton Friedman:
It’s nice to elect the right people, but that isn’t the way you solve things. The way you solve things is by making it politically profitable for the wrong people to do the right things.
No entanto, o argumento que uma Economia funcional não pode prescindir de boas pessoas vêm ganhando força, mesmo dentro da profissão dos economistas, onde considerações de valores morais e virtudes nunca foram bem vistas. O título do livro de 2016 de Samuel Bowles, The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens expressa bem esta noção. Diedre McCloskey não só lançou uma trilogia sobre o papel de valores e ética no crescimento econômico, mas seu próximo livro, a ser lançado este ano, se chama How to be a Humane Libertarian: Essays for a New Liberalism. Há também o livro de Timothy Besley (2007) Principled Agents? The Political Economy of Good Government que enfatiza a importância de ter um sistema que escolha bons dirigentes.
Com as fragilidades da teoria econômica atual expostas pela crise econômica global, o clima está mais propício do que nunca para a consideração de moralidade e virtude. O problema principal agora é como implementar essas ideias.



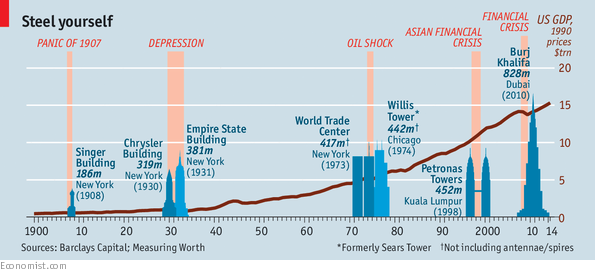



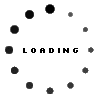




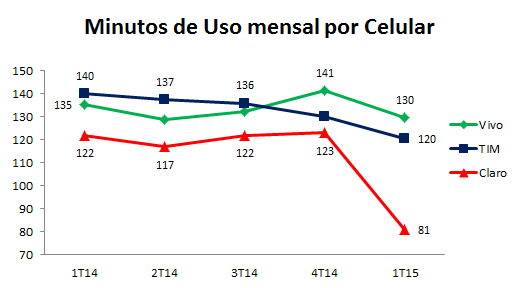

Comentários