Conforme as pesquisas de opinião, a corrução é vista pelos brasileiros como um dos três principais problemas do país, superando em alguns levantamentos a saúde e segurança. Em outro levantamento, somente é ultrapassada pela saúde e violência, igualando-se ao desemprego e situando-se bem longe de aspectos sociais como a fome e a desigualdade. Esta não é uma singularidade do Brasil e, em maior ou medida, é um fenômeno mundial, podendo ser identificada como uma das fontes que alimentam a atual onda de populismo que está abalando até países com longa tradição democrática. A maioria das outras dimensões que fazem parte das apreensões dos indivíduos (como desemprego, educação, saúde, segurança, etc.) mereceu uma particular atenção na academia e na ciência econômica, chegando a uma agregação de conhecimentos e trabalhos técnicos que, em maior ou menor medida, pautam o debate cotidiano e norteiam a formatação de políticas públicas.
No caso específico da corrupção, não obstante a relevância identificada nas pesquisas de opinião, esse cenário “ideal” (qualificativo que procede uma vez que o debate público e a formatação de políticas estariam ancorados em arcabouços teóricos e pesquisas empíricas) não parece ter-se realizado. As polêmicas e sugestões de política estão pautadas, quase que exclusivamente, por aspectos legais quando não morais/éticos. Não podemos negar a relevância dessas dimensões, especialmente pela idiossincrasia do tema. Contudo, uma disciplina como a economia, que chega a dar “palpites” em áreas que parecem situadas longe dos cálculos financeiros (custos/benefícios), como família, matrimônio, número de filhos, aborto etc., não poderia ficar indiferente a esse tema. Em realidade, existe uma ampla literatura abordando o tópico (corrupção) usando a perspectiva e as ferramentas usuais no modelo canônico (agentes maximizando uma função objetivo – no caso das firmas, maximizando lucros líquidos de propinas; incentivos, mercado concorrenciais ou não, etc.) e, como não poderia deixar de ser, esse prisma é questionado por paradigmas concorrentes. Porém, essa profusão de contribuições parece confinada a uma especialidade nos ambientes acadêmicos, com pouca transcendência fora desses círculos restritos. Pautas éticas/morais e conseguintes recomendações de penalidades legais parecem moldar os discursos.
No caso específico do Brasil, a “lava jato” se desenvolveu e adquiriu popularidade em um contexto no qual observamos uma notória incapacidade de os resultados da reflexão teórica e empírica na área de economia permear o debate público. Essa segmentação (reflexões acadêmicas na área de economia/debate público) nutre-se de diversas raízes e tem indubitáveis custos. Vamos começar por estes últimos.
Em termos de custos, a ausência de algum referencial da literatura econômica no debate público que aborda o tema faz com que aspectos éticos/morais/legais monopolizem as posições, enquanto temas complexos (como o próprio processo do desenvolvimento ou a retomada do crescimento, no caso do Brasil) estão sendo colocados em termos de um reducionismo quase absurdo. Assim, “solucionado o problema da corrupção” o país poderá decolar ou, a mesma proposição em outros termos, o “problema do Brasil é a corrupção”. Nas palavras de Moises Naim: “Corruption has too easily become the universal diagnosis for a nation’s ills. If we could only curtail the culture of graft and greed, we are told, many other intractable problems would easily be solved. Although it is true that corruption can be crippling, putting an end to the bribes, kickbacks, and payoffs will not necessarily solve any of the deeper problems that afflict societies”. Esse reducionismo foi também alimentado por algumas posições de certos organismos multilaterais os quais, nas últimas décadas, direcionaram seus olhares ao tema da corrupção. Por exemplo, para o Banco Mundial “Corruption is the single greatest obstacle to economic and social development”. Esta relevância outorgada a um fenômeno que (como veremos nos próximos posts) é extraordinariamente difícil se medir, induz no debate público vieses que chegam a alterar as prioridades e confundir magnitudes. Por exemplo, a esdrúxula afirmação segundo a qual combatendo a corrupção se poderia reverter o déficit da previdência. Como bem salientou Pedro Nery, nessa alegação se estão confundindo milhões com trilhões.
Ou seja, um dos custos da monopolização das atenções no combate à corrupção está vinculado ao reducionismo/simplificação de um processo complexo (como a retomada do crescimento e o processo de desenvolvimento em geral), que envolve diversas variáveis (investimento/poupança, educação, abertura ao exterior, etc.) em prol de uma dimensão que, não obstante a sua significância ética/moral, dificilmente possa ser identificada como a condição que permita transmudar os obstáculos que o Brasil enfrenta hoje para retomar uma senda de progresso econômico e social.
Contudo, abordar de forma mais rigorosa esse tema não é simples pela própria essência do objeto, fato que justifica o descolamento entre a produção acadêmica na área e sua utilização no debate público. Nos próximos parágrafos vamos detalhar várias dessas complexidades, e mesmo perplexidades, que nos depara o tema mesmo quando abordado a partir do olhar pretensamente rigoroso do modelo econômico corriqueiro.
Um pré-requisito elementar para iniciar qualquer reflexão consiste em definir o objeto. Em outros termos, de que estamos falando quando estamos debatendo a “corrupção”? Essa definição e os corolários que dela se deduzem não são triviais. Por exemplo, Jain (2001) afirma que: “Although it is difficult to agree with a precise definition there is consensus that corruption refers to acts in which the power of public office is used for personal gains in a manner that contravenes the rules of the game”. Treisman (2000) define a corrupção como “the misuse of public office for private gain”. Esta definição, que parece ir ao encontro do zeitgeist hoje no Brasil, tem profundos corolários, uma vez que assume que a corrupção é monopólio do setor público, de seus funcionários ou da interação destes com o setor privado. Não existiria corrupção na interação entre agentes do próprio setor privado. Nas palavras de Gary Becker: “To Root Out Corruption, Boot Out Big Government”. Nesta perspectiva, uma das alternativas para reduzir a corrupção seria ampliar os espaços mercantis, nos quais deveriam prevalecer as condições mais próximas à livre concorrência. Em recentes pleitos eleitorais no Brasil, foi utilizada um consigna segundo a qual, se a Petrobrás tivesse sido privatizada, não existiria o denominado Petrolão. Ainda que os que fantasiaram com essa frase não soubessem, eles eram tributários de Gary Becker.
Essa definição, ao se circunscrever ao setor público, a seus agentes e à interação destes com o setor privado tem imprevistos desdobramentos. Vamos nos deter em alguns deles, sejam porque são polêmicos seja porque denotam uma extrema fragilidade com a história recente.
Percebamos que restringir a corrupção ao setor público é uma delimitação que deixaria fora do escopo da análise episódios como o da Enron e várias das peripécias da crise da sub-prime nos EUA (AIG, Merrill Lynch, etc.). Excluir, pela própria definição de corrupção, interações dentro do próprio setor privado do escopo de pesquisas pode induzir a qualificar a essa perspectiva algum matiz ideológico, especialmente porque as recomendações de política que dela se deduzem sempre irão no sentido de que a melhor forma de se combater a corrupção será reduzir o Estado e elevar o grau de concorrência nos mercados. Mais ainda, estender o raciocínio leva a adjetivar a corrupção. Vejamos.
Dessa abordagem decorrem diversas recomendações de política que podem, em princípio, serem vistas como hostis ao próprio senso comum que acompanha a palavra “corrupção”. Por exemplo, é famosa a afirmação de Huntington (1968) segundo a qual “In terms of economic growth, the only thing worse than a society with a rigid, over-centralized, dishonest bureaucracy is one with a rigid, over-centralized and honest bureaucracy”. Ou seja, existiriam situações nas quais, em termos econômicos, um setor público corrupto seria preferível a uma burocracia honesta. Gary Becker afirma que “…some of the corruption in totalitarian systems like the Soviet Union may be of the good kind because the laws are so bad”.
Mas não unicamente teríamos situações nas quais a corrupção seria preferível ou teria impactos positivos. Segundo a perspectiva que estamos apresentando, ainda em situações menos extremas, como era o caso da União Soviética, as medidas anticorrupção teriam que ser submetidas aos normais critérios de custo/benefício. Em outros termos, reduzir ou acabar com a corrupção poderia ter custos que superam os benefícios. Uma sociedade que pretendesse acabar completamente com a corrupção poderia incorrer em tais custos que, pelo ângulo dos custos/benefícios, não seria interessante. Assim, da perspectiva legal ou mesmo ética/moral a corrupção constitui uma atividade que sempre e em qualquer circunstância mereceria reprovação e castigo, e se tomarmos o paradigma dominante veremos uma tensão entre essas distintas perspectivas. O mercado e a livre concorrência seriam um antídoto natural contra a mesma e em uma sociedade imaginária na qual sua forma de regulação estivesse inteiramente pautada pelas forças da oferta e demanda a existência de corrupção seria um contrassenso. Mas, por outro lado, a mesma lógica de sopesar custos e benefícios pode levar a diagnosticar corrupções “boas” ou “justificáveis” e “níveis ótimos de corrupção”, a partir dos quais os benefícios de reduzir as ilegalidades são inferiores aos custos.
Por outro lado, a racionalidade econômica que pauta o modelo canônico pode levar a situações paradoxais, próprias daqueles exercícios de laboratório que estão alimentando a popularidade da denominada Economia Comportamental. Lembremos que, no paradigma dominante, os agentes reagem a incentivos e penalidades, com castigos e recompensas que induzem atitudes. Por exemplo, antecipa-se que a elevação de uma penalidade desincentive o comportamento que se está pretendendo reprimir. Um estudo de campo ilustrado por Gneezy e Rustichini (2000) manifesta a possibilidade de um resultado que está nas antípodas do esperado. Nos parece ilustrativo relatar o desfecho dessa experiência uma vez que ela nos pode auxiliar como parâmetro para debater o desenho de políticas anticorrupção. Em uma escola, os pais retiravam seus filhos depois da hora de fechamento, cuja sequela era docentes e os próprios alunos cansados e entediados na espera. Foi imaginada uma forma de reduzir essa espera mediante a introdução de uma multa para os pais em atraso, medida que se imaginava moderar o tempo de espera, uma vez que penalizava financeiramente essa conduta. O resultado foi o contrário: os atrasos aumentaram. Radicalmente distinto do esperado, os pais viam as multas por atraso como um preço a pagar por sua atitude, sendo um direito ultrapassar a hora na medida em que pagavam por isso. Vamos agora para o caso da corrupção. Se a mesma é assumida como estando submetida à racionalidade própria do Homo-Economicus, pretender reduzir a corrupção mediante penalidades maiores ou fiscalizações mais eficientes pode ter como corolário, devido a que o risco se eleva, não uma queda nas práticas senão uma elevação das propinas.
Assim, abordar a questão da corrupção desde a perspectiva do modelo canônico mais elementar, para o qual existiria uma identificação entre Estado e sua burocracia e essas práticas, tem diversos desfechos: o setor privado seria angelical, os mercados, uma maior concorrência e uma maior abertura comercial seriam o antídoto primário contra essas práticas, existiria uma corrupção boa e uma má, o cálculo custo/benefício pode não redundar no objetivo “zero corrupção” e o mecanismo de incentivos (penalidades e recompensas) não necessariamente vai desaguar nos resultados esperados.
Em próximos posts vamos nos concentrar com maior detalhe diversos aspectos que colocamos nos parágrafos anteriores. Por exemplo, existe um claro problema no tocante à medição do fenômeno. Nesse sentido, afirmações que identificam na corrupção o “principal obstáculo ao desenvolvimento” tem uma fragilidade intrínseca, uma vez que se podemos ter uma medida mais ou menos exata de outros indicadores (educação da força de trabalho, poupança/investimento, abertura ao exterior, etc.) os esforços para nos aproximar quantitativamente da corrupção partem de levantamentos de percepção da população, que pode não ser uma boa manifestação de fenômenos reais. Por outra parte, o modelo canônico sofisticou e diversificou abordagens, chegando a uma verdadeira multidão de modelos. Por último, as correlações entre desenvolvimento e corrupção (à margem das restrições associadas à sua medição, que acabamos de mencionar) são ricas em resultados, mas não deixam de estar abertas a interrogações (por exemplo, a relação de causalidade).





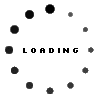




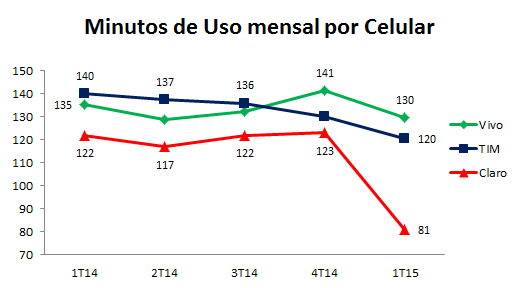

Comentários