As preocupações do direito da concorrência nos mercados digitais perpassam todas as suas principais esferas: atos de concentração, combate a condutas coordenadas e também unilaterais.
Diversos eventos no Brasil e no exterior têm discutido esse tema. Pela primeira vez na história recente, o FTC realizará Hearings na Georgetown University , nos dias 13 e 14 de setembro, justamente sobre as mudanças na economia decorrentes das novas práticas comerciais, das novas tecnologias e dos seus desdobramentos, que podem demandar ajustes na definição de prioridades do FTC (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/08/ftc-announces-opening-session-hearings-competition-consumer). Outro evento, que se realizará em novembro deste ano de 2018, na Harvard Law School, terá objeto semelhante de discussão (http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/2018/08/challenges-to-antitrust-in-a-changing-economy.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FFBhU+%28Antitrust+%26+Competition+Policy+Blog%29)
Pelo que tenho observado das discussões, quanto aos atos de concentração, duas são as principais linhas de preocupação:
(1) critérios de notificação de uma operação de concentração econômica. Será que os critérios tradicionais de faturamento, tais como o adotado pela Lei 12.529/201, são suficientes em uma economia digital? Se sim, porque aquisições como a do Whatsapp pelo Facebook não foram notificadas, mesmo diante do seu claro impacto na vida dos brasileiros? Esse não seria um indicativo de que outros parâmetros devem ser utilizados para parametrizar as análises antitruste? Mas quais seriam estes parâmetros? (ex. quantidade de dados armazenado pelas empresas?)
(2) critérios materiais de análise de uma operação de concentração econômica. Será que concentrações econômicas envolvendo empresas de tecnologia, que têm acesso a dados, por exemplo, devem seguir critérios diferenciados? Seria necessário adaptar os testes tradicionais de definição de mercado relevante? Como analisar os níveis de participação de mercado como competitivos (ou não)? A privacidade deve ser considerada uma dimensão de análise, ou deve ser relegada aos órgãos de defesa do consumidor ou à regulação? A dissertação de mestrado da Gabriela Monteiro, da FGV, que tive a alegria de compor a banca avaliadora, discute justamente este tema: https://drive.google.com/open?id=1uthgkOn6pKUCSL3mQ0jLvE5k8ipbCx9B.
Já com relação às condutas unilaterais, um dos artigos recentes de maior impacto na doutrina antitruste foi escrito por uma jovem de 29 anos, a Lina Kahn. Em seu trabalho intitulado “Amazon`s Antitrust Paradox“, a autora questiona a postura antitruste tradicional segundo a qual o “bem estar do consumidor” deva ser o foco antitruste, analisado por métricas de curto prazo, como preços e oferta. Segundo esta ótica, o antitruste não de focar no bem estar dos produtores ou na saúde dos mercados. Com isso, a Amazon teria até o presente momento escapado do escrutínio antitruste nos EUA, como se desenhasse suas práticas comerciais justamente nesse “vácuo”. “It is as if Bezos charted the company’s growth by first drawing a map of antitrust laws, and then devising routes to smoothly bypass them. With its missionary zeal for consumers, Amazon has marched toward monopoly by singing the tune of contemporary antitrust.“. Este viés desconsideraria então o risco de preços predatórios e também os riscos concorrenciais decorrentes da integração das diversas atividades da Amazon, enquanto plataforma. A empresa deveria ser então considerada uma infraestrutura essencial, o que a permite inclusive explorar as informações coletadas para prejudicar seus competidores. Artigo do NYT que comenta a trajetória e as repercussões trazidas pela Lisa Kahn podem ser acessados aqui: https://www.nytimes.com/2018/09/07/technology/monopoly-antitrust-lina-khan-amazon.html. Para rebater os argumentos da autora, diversos acadêmicos e profissionais escreveram artigos (alguns deles financiados pelas próprias Amazon, FB, etc.). Numa dessas tentativas, chamaram esse movimento de “Antitruste Hipster”, que deixa de focar unicamente no bem estar do consumidor (que é o cerne nos EUA há décadas) e passa a buscar uma concorrência mais qualitativa, segundo a qual os consumidores buscam qualidade, inovação e qualidade. Já fiz um post sobre esse tema (https://www.amandaathayde.com.br/single-post/2018/04/25/Uma-nova-era-de-antitruste-hipster).
Ainda, chamo atenção para a atuação da autoridade de defesa da concorrência da Alemanha (o Bundeskartellamt), que tem sido uma das mais atuantes nesse tema. Recentemente, em agosto de 2018, foi publicado o relatório anual da autoridade, em que seu presidente, Andreas Mundt, indicou suas duas prioridades sobre no contexto da economia digital (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/27_08_2018_Jahresbericht.html?nn=3591568):
(1) manter os mercados abertos a contestabilidade de concorrentes, de modo que as empresas continuem a ter a oportunidade de serem bem sucedidas quando tiverem novas ideias; e
(2) garantir que os consumidores possam selecionar seus produtos e serviços em um ambiente justo e transparente.
Por fim, quanto às condutas coordenadas, uma das principais discussões concorrenciais nos mercados digitais é a respeito do uso de algoritmos pelas empresas de internet. Haveria a possibilidade de colusão via algoritmos? Os autores STUCKE e EZRACHI são as referências sobre esse tema, tendo publicado um primoroso livro, intitulado “Virtual Competition“. Segundo os autores, haveria quatro tipo de agentes implementadores de uma colusão via algoritmos:
(1) Mensageiro (messenger): humanos que concordam em realizar a colusão e que utilizam computadores para executar essa vontade. Sobre esse tipo de colusão, já houve persecução pelo DOJ nos EUA, no caso United States vs. Topkins
(2) Hub and spoke: vários usuários horizontalmente relacionados utilizam um único algoritmo para definir seus preços, de modo que a colusão entre os concorrentes se dá por meio de um elo comum, verticalmente relacionado. Sobre esse tipo de colusão, há condenações nos EUA, Europa e também investigações no Brasil
(3) Agente previsível (predictable agent): humanos que desenvolvem unilateralmente seus algoritmos, que são desenvolvidos para preverem o comportamento do mercado e se enquadrarem
(4) Máquina autônoma (autonomous machine): humanos desenvolvem e utilizam suas máquinas e algoritmos unilateralmente. As máquinas, através de autoaprendizagem e testes, determinam meios de maximização de lucro sozinhas (que podem ser colusivos), sem qualquer interferência dos humanos.
A pergunta que se faz é a seguinte: como atribuir responsabilidade a cada um desses tipos de agente no Brasil, diante do fato de que a Lei 12.529/2011 exige, para as pessoas físicas, o elemento de culpa ou dolo? No caso dos agentes (1) e (2), acredito que não haveria maiores problemas em se considerar um ilícito pelo objeto e, portanto, investigar as pessoas físicas diretamente envolvidas, já que há claro elemento culposo. Quanto aos agentes (3) e (4), por sua vez, é possível que se questione se há no mínimo o elemento da culpa. Ainda assim, considerando a teoria do risco empresarial e o fato de que aquele que criou o algoritmo pode ser considerado, no mínimo, negligente pela colusão via algoritmos, acredito que seria sim possível também haver essa persecução administrativa.
Essa responsabilidade seria imputável, portanto, aos agentes que diretamente se envolveram na conduta. Mas e os administradores/dirigentes que, de algum modo, deixaram que isso acontecesse? Acredito que, se essas pessoas físicas deixarem de ser responsabilizadas nos termos antitruste, tendo em vista eventual elemento probatório de culpa, elas poderiam, ainda assim, ser responsabilizadas nos termos societários, pela violação ao dever de diligência e lealdade (no caso de uma SA, nos termos dos arts. 154 e 155). Já escrevi sobre isso em um artigo que consta aqui no site: https://docs.wixstatic.com/ugd/7d56b7_2bae006e9f9d405cbf5a93448d0476e8.pdf, em que apresento inclusive a possibilidade de essa ação social ser proposta por acionistas minoritários.
Acredito que o “pulo do gato”, porém, está em como responsabilizar eventuais acionistas controladores, que estão envolvidos no desenho competitivo da empresa mas que não ocupam estes cargos de gestão. Nos termos da LSA, os deveres atribuíveis aos controladores são de algum modo “menos incisivos” do que aqueles atribuídos aos administradores (art. 116), razão pela qual doutrinadores no Brasil, como Calixto Salomão Filho e Ana Frazão têm estudado mecanismos de responsabilização e imputação dos controladores.
Diante de todo esse contexto, como está a atuação do CADE nos mercados digitais? Se você tivesse que apontar um dos três níveis seguintes, quais seria? A autoridade antitruste brasileira atua nesses mercados com indiferença, desconfiança ou desconforto?





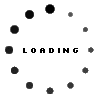




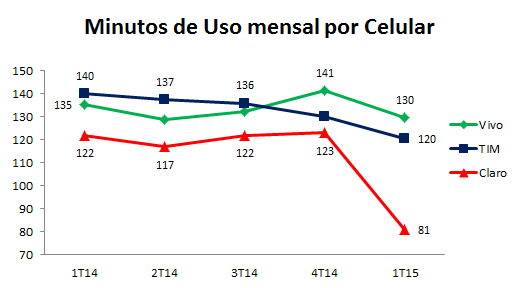

Comentários