No bojo da alteração de legislação trabalhista que vem sendo implementada aos poucos desde 2017, foi noticiado pela imprensa que uma próxima iniciativa (ainda estaria em estudo) seria a redução do FGTS (dos atuais 8% para 2%) no caso da contratação de jovens (16-24 anos). A esse benefício se agregaria um outro: a diminuição do percentual de multa sobre o FGTS (no caso de desligamento sem justa causa, montante que é recebido pelo assalariado) dos atuais 40% para 20%. Essa alteração teria como intuito induzir a contratação, via CLT, desse público alvo (jovens nessa faixa etária) afim de reduzir o desemprego e elevar sua formalidade. O incentivo para a contratação celetista seria, basicamente, por meio de redução nos custos ou, em outros termos, tornar os assalariados jovens “mais baratos”. O público alvo das medidas estudadas pelo governo também contemplaria, além dos jovens, aqueles indivíduos que estivessem mais de dois anos sem apresentar vínculos formais (CLT). Ou seja, além da redução do desemprego e formalização dos jovens a medida visaria uma formalização da mão-de-obra em geral, objetivo a ser atingido através da redução de custos.
Neste post não vamos analisar o segundo objetivo (a contratação formal de indivíduos que estejam sem registrar vínculos formais há mais dois anos). Assim, nos próximos parágrafos vamos nos limitar a apresentar algumas reflexões sobre o primeiro: a redução do desemprego e a formalização dos jovens com uma medida que, basicamente, reduz custos.
Vamos iniciar a discussão levantando duas questões: a plausibilidade do problema e a pertinência da solução que está em estudo pelo governo.
A primeira questão, então, diz respeito ao “problema” que se quer reverter: o desemprego e a informalidade entre os jovens é maior que para o resto da população? A resposta é afirmativa e esse aspecto não pode ser atribuído à crise posterior a 2014 senão que, contrariamente, tem um caráter estrutural. Segundo os dados da PNAD/2014 (ou seja, antes do auge da crise), a taxa de desemprego aberto entre os jovens (16-24 anos) era de 16,59%, sendo o percentual de somente 4,69% no caso da população entre 25 e 65 anos (Fonte: micro-dados PNAD, elaboração própria). Ou seja, existe um problema real de desemprego entre a população que deve ser atingida (beneficiada) pela medida em estudo pelo governo. O problema (desocupação) não é imaginário.
No tocante à informalidade, essa questão é mais complexa, uma vez que teríamos que definir o que entendemos por “informalidade”. Vamos considerar uma medida um pouco geral: empregado sem carteira de trabalho assinada + trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada + não-remunerado. Definir a situação de informalidade pode levar a polêmicas (debate que foge a nossos objetivos neste post), mas essas categorias de inserção são mais ou menos consensuais quando se pretende definir o segmento informal. Na faixa etária de 16-24 anos, o percentual de ocupados não integrados nos espaços informais era de 34,86% em 2014 (antes da crise), sendo de somente 19% no caso dos indivíduos cuja idade está situada na faixa de 25-65 anos. (Fonte: micro-dados PNAD, elaboração própria). Ou seja, existe, realmente, maior prevalência de vínculos informais entre os jovens. Se a informalidade pode se assemelhar a um problema a ser equacionado ou minorado, o governo pretende combater uma disfunção que não é uma fantasia.
Avaliada a primeira questão (existe realmente um problema de desemprego e informalidade entre os jovens), passemos à segunda questão: esse “problema” é produto de um custo elevado, que leva a que os jovens ou não sejam contratados ou sejam contratados, mas sem vínculo formalizado ?
O desafio do desemprego dos jovens (mais elevado que a média da população) não é uma singularidade do Brasil. Na maioria dos países, mesmo nos mais desenvolvidos, a taxa de desemprego entre os jovens tende a ser superior à média. Na Itália chega a 32%, na Espanha 34% e na Grécia aos incríveis 40%. (Fonte: OCDE, 2019). Os percentuais médios de desemprego nesses países (toda a população) são de 10%, 14% e 17%, respectivamente. (Fonte: OCDE, 2019). Ou seja, a população jovem tem uma particularidade que a torna mais vulnerável ao desemprego (e à informalidade, no caso do Brasil).
Dada a identificação de uma população com problemas específicos, a tendência em diversos países consiste em adequar a institucionalidade a esses nichos, proporcionando incentivos legais que favoreçam a sua contratação. Assim, diversos países tem salários mínimos específicos para os jovens que visam, justamente, induzir os empregadores à sua contratação. Implicitamente, o marco teórico que nutre essa política estabelece um vínculo estreito entre produtividade e salários. No caso de se estabelecer um salário mínimo para a totalidade da população, seriam penalizados aqueles conjuntos populacionais que têm uma produtividade inferior a esse nível mínimo de remuneração estabelecido pela legislação (por exemplo, jovens, mão-de-obra com pouca qualificação, mercados de trabalho em regiões com menor desenvolvimento relativo, pessoas com alguma deficiência, etc.). Desde outra perspectiva, elevar o salário mínimo penalizaria, justamente, aqueles grupos que, teoricamente, se pretendia beneficiar (jovens, especialmente aqueles com pouca escolaridade, mão-de-obra adulta com pouca qualificação, etc.). Aqui estaríamos frente a uma tensão entre salário mínimo e emprego, estresse que sempre foi amplamente debatido na literatura, mas, no caso que estamos analisando, o público específico seriam os jovens. Aliás, no debate teórico e empírico sobre o salário mínimo habitualmente a população jovem foi um eixo que pautava o debate e dividia posições.
Nesse sentido, a proposta, em estudo pelo governo, que visa reduzir o custo de contratação dos jovens não é original nem deixa de ter antecedentes em termos de política pública. Neste caso específico, porém, a estratégia escolhida não é o estabelecimento de um salário mínimo específico para a população de 16-24 anos, senão reduzir seus custos. Contudo, a lógica é exatamente a mesma.
Agora estamos em condições de avaliar a segunda questão: existe um problema de custos no caso do Brasil ? Os jovens não são contratados (ou informalizados) devido aos custos (salários diretos ou indiretos, como o FGTS, mais encargos trabalhistas, mais risco…..) não condizerem com sua produtividade ? Avaliar a plausibilidade dessa hipótese é relativamente fácil. Nossos olhares têm que se direcionar aos salários com os quais são contratados. Se eles estão próximos do mínimo, a hipótese merece ser aceita. Caso contrário, não. Imaginemos, para ilustrar, um exemplo um pouco extremo. Assumamos que o salário mínimo seja de 100 e, com o 8% de FGTS, o custo seria de 108 (não estamos considerando outros encargos para simplificar o exemplo sem perder-nos em generalidades). Se os salários de contratação prevalecentes estão próximos de 100, pode existir uma restrição de custos que limitam maiores contratações (jovens com produtividades inferiores a 108). Porém, se os salários com os quais são admitidos estão situados em, suponhamos, 200, certamente o desemprego ou a informalidade não estão vinculados aos custos. Em outros termos: os empregadores poderiam pagar salários inferiores (a legislação deixa aberta essa possibilidade, uma vez que o salário mínimo é de 100), mas os rendimentos com que são contratados superam largamente esse patamar. Neste último caso, propostas que pretendam reduzir o custo das contratações seriam inócuas, uma vez que a não contratação não se nutre de custos elevados (existe espaço para que o mercado ajuste, sem que a legislação seja contornada).
Para tentar avaliar se os jovens no Brasil não são contratados ou são informalizados devido aos custos podemos utilizar as informações do CAGED, um registro administrativo que contabiliza informações de admitidos e desligados com vínculos regulados pela CLT. Os dados contidos na Tabela anexa a esse post correspondem ao ano de 2018 e consistem nos rendimentos com que foram contratados, via CLT, os jovens entre 16 e 24 anos. Realizamos dois cortes: segundo escolaridade e por região/UF. Essas duas variáveis podem ser relevantes para compreender diferenciações que a média geral pode ocultar. O corte por escolaridade pode ter como referência a Teoria do Capital Humano: quanto mais elevada a educação maior seria a produtividade e maiores deveriam ser os salários. Dado esse referencial, o relevante seria fixarmo-nos nas menores faixas de escolaridade, uma vez que, teoricamente, estariam concentrados nesses intervalos de renda os possíveis desdobramentos negativos do salário mínimo sobre o emprego e a formalidade. A variável região/UF é necessária dado que, no Brasil, é consenso que existe segmentação espacial na formação de rendimentos.
Uma rápida leitura da tabela pode suscitar dois reparos.
O primeiro diz respeito a salários de contratação regulados pela CLT inferiores ao mínimo. Lembremos que, em 2018, o salário mínimo era de R$ 937. Vários fatores podem explicar essa anomalia nos dados: contratações por tempo parcial, intermitente, etc.. Deveriam-se realizar ajustes, mas, como veremos, essas falhas não chegam a comprometer nossas conclusões gerais.
O segundo reparo diz respeito a uma “anomalia” na correspondência entre os dados e a Teoria do Capital Humano: os menores rendimentos dos jovens se identificam nos que têm segundo grau incompleto e não nos analfabetos. Os salários de contratação no caso dos indivíduos com Ensino Médio Completo é inferior ao observado nos jovens assalariados com Fundamental Completo. Poderíamos tentar alguma hipótese para explicar essa aparente “anomalia” (excesso de oferta, recusa em ocupar postos de trabalho com status pouco valorizados socialmente, etc.). Deixamos para outro post ensaiar alguma tentativa de explicação.
Retornando a nosso objetivo, em média, os salários de contratação estão além do valor do salário mínimo. No Brasil, em 2018, o salário de admissão de um jovem (16-24 anos) foi 14% superior ao mínimo. Se os custos fossem a restrição ativa para explicar o desemprego ou a informalidade nessa faixa de idade, o mercado teria espaço para ajustar. Mesmo entre os jovens sem instrução (analfabetos) os salários de admissão são significativamente superiores ao mínimo (10% maiores). Contudo, a restrição sim pode ser relevante nos Estados do Nordeste e em alguns do Norte. Ou seja, a inciativa do governo só teria algum impacto nas regiões mais pobres do país. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste (não considerando o caso do Ensino Médio Incompleto, que merece uma análise particular) reduzir custos não pareceria ser a estratégia mais adequada para induzir a contratação ou a formalização dos vínculos na população jovem. Nas áreas mais desenvolvidas do país, a falta de oportunidades de emprego ou a ilegalidade dos vínculos não parecem ser alimentadas pelos custos. Em outros termos, nessas regiões não parece plausível elevar o emprego formal tentando tornar os assalariados mais “baratos”.
Vamos direcionar agora a nossa atenção à redução da “multa” no caso de desligamento sem justa causa. Um dos motivos do desemprego jovem ser, na maioria dos países, superior à média da população diz respeito ao risco de sua contratação. Esse risco é produto de diversos fatores: os jovens têm menos responsabilidade como fonte de renda na família; são mais instáveis psicologicamente; estão em processo de maturação de seus gostos e habilidades; suas habilidades/competências podem não corresponder às requeridas pelas vagas que são abertas; os sinais acumulados por empregos anteriores são menores, ……. Ou seja, há uma série de fatores que caracterizam a contratação de um jovem como sendo mais arriscada, todo o demais constante, quando comparada com a escolha de um adulto. A taxa de rotatividade (e os custos associados a ela) são maiores na população jovem. Nesse sentido, reduzir os custos de desligamento sem justa causa pode ser uma alternativa que sim pode induzir contratações ou a formalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Observemos que o risco poderia já estar incluído nos salários pagos e como estes são bem superiores ao mínimo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, não parece que nessas áreas a redução da multa possa ter algum impacto.
A estratégia que parece ter sido escolhida pelo governo tem muitos referenciais. Em diversos países, especialmente, ainda que não exclusivamente, na Europa Continental, as iniciativas para reduzir o desemprego passam pela identificação de nichos específicos entre a população ativa (ou com potencialidade de ser ativa), a qualificação de suas restrições particulares e, finalmente, promover alterações na legislação trabalhista afim de beneficiar os mesmos. Jovens sem formação, primeiro emprego, assalariados beneficiários de programas de transferência de renda, adultos próximos da aposentadoria e com escasso capital humano, mulheres chefes de família numerosa e com pouca formação, … são franjas da população com reconhecidos problemas de participação na força de trabalho, com restrições no momento das contratações, etc.. A legislação é alterada para seu benefício e o resultado é um marco regulatório extremamente complexo, que contempla subsídios, contratos com duração indeterminada, contratos temporários, contratos a tempo parcial e por aí vai. A legislação básica ou pretensamente universal (para todos os assalariados) vai sofrendo uma série de “remendos” e o marco regulatório vira uma “colcha de retalhos” onde é difícil quantificar impactos, uma vez que prevalecem subsídios cruzados, estão justapostos contratos extremamente rígidos com outros particularmente flexíveis, as supostas transições entre empregos subsidiados ou beneficiados e contratos “normais” se realizam de forma muito onerosa, etc.. Mesmo em países anglo-saxões, com tradição de mercados de trabalho menos regulamentados, essa parafernália de regulamentação também é encontrada. A Nova Zelândia, por exemplo, tem três salários mínimos. As especificidades de cada possibilidade de contratação são tantas que é difícil acompanhar a legislação (ver OCDE (2014)). O resultado, como afirmamos, dada a complexidade da institucionalidade, é uma enorme dificuldade para avaliar cada medida em particular, uma vez que todas interagem entre elas. Os mercados de trabalho aprofundam sua segmentação, não unicamente regionalmente, mas dentro da própria firma. Assim, uma parte do estoque de assalariados de uma empresa pode ter seus vínculos regulados por uma legislação extremamente rígida (como a CLT) e convivem, no mesmo lugar de trabalho, com outros cuja relação trabalhista está pautada por uma legislação extraordinariamente flexível.
No caso específico que estamos analisando (reduzir a contribuição ao FGTS e da “multa” no caso da contratação de jovens de 16 a 24 anos), a medida proposta pelo governo poderia ter impacto positivo no Norte-Nordeste do país. Mas como, caso esta hipótese esteja certa, o problema do desemprego jovem no centro-sul permaneceria. No futuro, serão propostas novos “remendos” que beneficiem essas áreas ? A institucionalidade que regula as relações capital/trabalho vai se aproximar do caos, à justaposição e a irracionalidade que caracteriza o sistema tributário brasileiro ?
Obviamente que as alterações na legislação precisam levar em consideração as restrições ou avaliações não unicamente econômicas, senão também as políticas e culturais. Aí podemos ter um conflito entre a racionalidade econômica e o leque de possibilidades factíveis. Por exemplo, se nossas hipóteses vieram a se confirmar (os custos do trabalho inibem o emprego formal de jovens no Norte/Nordeste, mas é irrelevante no restante do país), não seria o caso de se pensar simplesmente na eliminação do salário mínimo ? O que seria preferível economicamente e plausível politicamente, reduzir a contribuição do FGTS/multa ou regionalizar o salário mínimo ? Em uma país continental e heterogêneo como o Brasil, qual é a racionalidade de um salário mínimo nacional ?
Autor:

Carlos Alberto Ramos é Professor do Departamento de Economia, UnB. Graduação Universidad de Buenos Aires, Mestrado na Universidade de Brasília, Doutorado na Université Paris-Nord.



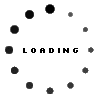




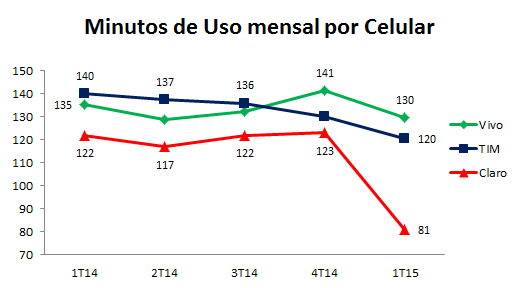

Comentários